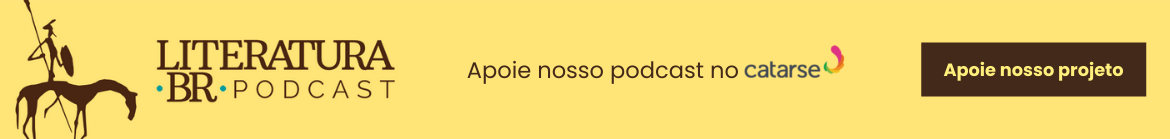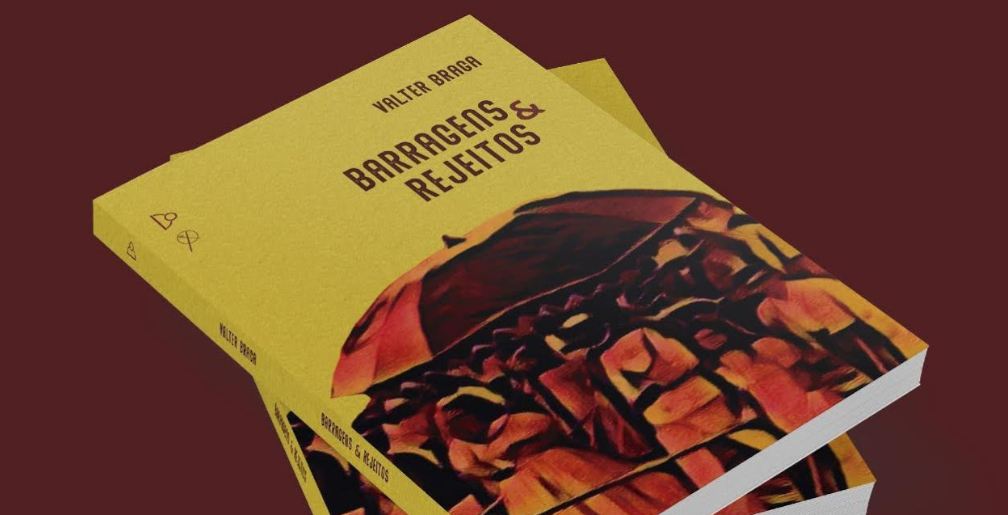Uma conversa com Júlia Grilo
Romancista, ensaísta e cronista, Júlia Grilo nasce em Salvador, no início dos anos 2000. É, porém, a partir da consonância entre o sertão e o recôncavo baiano que encontra os fundamentos de sua literatura: morando em Amélia Rodrigues, deslocava-se a Feira de Santana quase diariamente, do ginásio ao fim do colegial. “(…) No sertão eu costumava estar de passagem, nunca para dormir; meu sono era úmido e abafado, lambido pelo melaço da cana-de-açúcar”. Enredada na cibercultura, aos 10 assimila a linguagem internética e, através da escrita em blogspots, esboça as bases de sua estética, marcada pelo coloquialismo, pela rapidez e, sobretudo, pela ruptura com a anterioridade.
Aos 15, escreve o seu primeiro livro, um ensaio sobre a escola a partir de sua perspectiva estudantil, fazendo uso de estilística tensa, espirituosa e estridente. Este texto, nomeado “Perdemos o futuro”, é a gênese essencial de seu projeto literário e configura os pilares de sua escrita. Júlia Grilo não se interessa em publicá-lo, no entanto, embora tenha sido convidada para tal. Aos 17, finaliza “Deserção”, o seu primeiro romance, cuja publicação também não veio a interessar a autora, que encontra em “Cães” (2020), finalmente, o raiar de sua trajetória no universo da literatura. Atualmente, vive em Salvador, onde se gradua em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia.
Como a literatura entrou em sua vida? Quais autores a influenciaram?
É difícil falar da arte sem fazer com que ela pareça um fenômeno extraordinário. Só que a literatura, para mim, é um exercício bastante cotidiano, e justamente nas miudezas da vida comum que ela tem as suas raízes: acho que eu só virei escritora porque nunca quis ser uma.
A escrita passa a ser uma prática aos meus 10 ou 11 anos, quando eu publicava textos cheios de humor e ironia nas plataformas blogspot – ninguém lia, claro. Em circunstâncias assim é que a arte se revela uma inutilidade essencial, como diz Caetano – eu escrevia para escrever, sem justificativas mais sofisticadas. Aos 15, porém, a coisa vai ganhando a solidez de um ofício, quando escrevo um ensaio sobre a escola chamado “Perdemos o futuro”. Eu comecei a escrevê-lo sem ter ideia do que estava fazendo e só descobri o que era aquilo depois, quando lhe deram um nome – antes eu e Laerte o chamávamos de “texto-grande”.
Em minha relação com literatura, três revoluções copernicanas foram responsáveis por mudar tudo o que veio depois: Machado de Assis, aos 15. Gabriel García Márquez, aos 17. E Elena Ferrante, aos 19.
Quais as suas principais influências literárias atuais?
Gosto de Conceição Evaristo, de Ana Paula Maia, de Daniel Galera, de Marcelo Labes e do saudoso Victor Heringer. Gosto das minhas amigas paulistas Mariana Carrara e Maria Eugênia Moreira. Gosto dos meus amigos baianos Hosanna Almeida, Maria Luiza Machado, Kátia Borges e João Victtor Gomes Varjão. Gosto de Tom Zé, sempre ele.
Quais livros e escritores influenciaram diretamente “Cães”?
Acho que é na distância entre a verdade e o desejo que arte e ciência se separam. E me interessam os dois: me interessa o rigor científico e me interessa a irresponsabilidade artística. Dentro deste intervalo, então, eu posso dizer que estão em “Cães” Milton Santos em “A urbanização brasileira”, a “Tetralogia Napolitana” de Elena Ferrante, “Saúde Mental, Gênero e Dispositivos” de Valeska Zanello e “As veias abertas da América Latina” de Eduardo Galeano.
Como define seu estilo de escrita?
Há algum tempo li um artigo que definia João Gilberto como a contradição de ser ao mesmo tempo um clássico e um escândalo. É essa mesma contradição que eu admiro em Ferrante. Há quem não goste do popular, o que para mim é ridículo (dado que elitista, dado que racista, dado que o Brasil é um país sádico por natureza). Eu gosto do popular e gosto da contradição também.
O que eu não gosto é que me digam o que fazer, e tem isso tudo na minha escrita: é desesperada, com meus vestígios de criança; é sóbria, com minha vontade de adulto; e é incivil, porque eu não gosto que me digam o que fazer.
“Cães” tem uma linguagem densa e fluida, eu acho, e eu gosto da contradição de ser densa e fluida. Gosto da contradição.
O que a fez se sentir segura para lançar seu primeiro romance? Quais dificuldades enfrentou no processo de edição?
Antes de “Cães”, eu já havia finalizado dois projetos, mas não quis publicá-los, embora tenha recebido alguns convites para fazê-lo. Eu não me sentia pronta. Acho que o horizonte de Amélia Rodrigues, cidade onde cresci, fazia tudo parecer muito assustador. Em Salvador, porém, eu encontro a efervescência, a urbanidade que se movimenta, a dialética, e a dinâmica da vida artística deixou então de me soar tão intangível: eu via as pessoas produzindo e queria fazer parte da brincadeira também. Assim, a publicação de “Cães” foi se tornando inevitável, não só pela recepção positiva que vinha recebendo desde o princípio, mas também porque encontrei em sua narrativa, finalmente, o Zeitgeist que procurava. Com o perdão pelo cartesianismo, reconhecer-me em domínio da forma literária me levou a concluir que já havia em meu trabalho uma solidez que o sustentaria independentemente de mim. Queria que a minha estreia tivesse força o bastante para desbravar o mundo sozinha, e esta escolha não poderia ter sido mais feliz: “Cães” marca o início do meu projeto literário e anuncia que a minha relação com a literatura se trata de uma relação contínua.
Queria que você falasse também sobre o processo de criação de “Cães”.
“Cães” começou, primeiro, como um desafio que decretei para mim mesma: eu já sabia que conseguia dissertar ensaisticamente, coisa que havia aprendido com “Perdemos o futuro”, e por isso mesmo queria saber até que ponto guiaria uma narrativa como romancista, contando uma história que não a minha. Em 2017, eu finalizei um romance chamado “Deserção”, que eu detesto, porque acho que ele denuncia tudo que eu tinha de mais ridículo – é vulgarmente adolescente, dramático, apressado, impreciso (estive em contradições dolorosas com minha juventude por muito tempo, como se pode ver). Quis então me desvencilhar de vez da adolescência, período quando tudo parece muito fatal e muito urgente – um amigo disse uma vez que o sofrimento é egocêntrico e eu acho que dá para encontrar algum sentido nesta afirmação. Criar personagens e escrever na terceira pessoa era uma tentativa de praticar a alteridade e romper um pouquinho com o meu narcisismo (risos). Quando eu enviei o original de “Cães” para Laerte, eu escrevi: esta é uma despedida da adolescência.
O que diria a quem está produzindo, ou pretende produzir, uma narrativa de fôlego? Quais são as maiores dificuldades?
Eu fiquei muito surpresa quando descobri, na apresentação que Richard P. Martin faz à edição da “Odisseia” da Cosac Naify, que os textos homéricos foram músicas cantadas ao longo dos séculos antes de terem sido aprisionadas pela palavra escrita. No grego homérico, o poeta é um cantor (aoidos), e é de canção (aoidé) que surgem as “odes”. E eu, que sempre me constrangi pela minha inabilidade musical, que mal sei distinguir as notas musicais, que sempre me apaixono por músicos porque eles sabem do que eu não sei e o não saber me é assombroso e fascinante, descobri que a música e a literatura estavam mais afins do que o que eu pensava. É justamente desta afinidade que surge o ritmo, o fôlego narrativo. Nunca pensei que fosse capaz de fazer música – mas pelo visto, eu sou sim. Em Elena Ferrante, “Lila sabia falar por meio da escrita (...), sabia falar sem que se sentisse o artifício da palavra escrita”.
“Cães”traz uma orelha assinada por Laerte. Qual é a sua relação com a cartunista?
Eu fui uma adolescente típica, muito dramática e melancólica. Digo assim, hoje, para tentar atenuar um pouco o horror que foi a minha adolescência; as coisas eram bastante tempestivas para mim. Eu estudei em colégio particular e isso explica muita coisa (risos). Através da literatura, eu pude desenvolver uma atitude meio existencialista, e pensava: tudo bem se eu sofrer, tudo isso pode virar texto depois. Escrever era uma maneira de fazer a vida valer a pena, de significá-la. E aí, um dia, eu descobri que um cartunista da Folha, o João Montanaro, fora contratado aos 14. Eu fiquei toda serelepe (risos), porque tinha 14 anos também, sofrendo as agruras da precocidade. Daí escrevi para ele, e ele me disse: escreve para Laerte, ela vai te adorar.
Não é que ela me adorou mesmo? Viramos amigas, surpreendentemente amigas, e acho que é com ela que eu compartilho as dimensões mais basilares da minha vida íntima. Como ninguém me dava muita bola no colégio, era Laerte quem lia as coisas que eu escrevia. Ela costuma ser sempre uma das primeiras a ler, até hoje. Gosto demais dela. E quero ser que nem ela quando eu crescer (risos).
Na escola, quando eu dizia que éramos amigas, ninguém acreditava! Durante quase toda a minha adolescência, Laerte foi a única pessoa que dava bola para o que eu escrevia – e eu realmente me sentia muito sozinha. Acho que é aqui que a representação romântica do artista como um outsider, um estrangeiro irremediável, pode se esbaldar (risos). Não sou muito partidária desta representação, mas o fatalismo da adolescência é um prato cheio para ela: eu não me compreendia muito bem entre os meus pares e as minhas dúvidas sempre culminavam em grandes tragédias. O meu primeiro livro “Perdemos o futuro” (que tem o prefácio de Laerte, também) foi fruto de uma dessas tragédias, dessa cisão com alguns aspectos da coletividade. Laerte sempre me acolheu, e ainda hoje é uma das primeiras a ler o que eu escrevo.
Poderia comentar sobre o feminino em “Cães”?
Eu comecei a escrever Cães porque Cafeína – sim, a cachorra – estava morrendo e eu me sentia culpada por isto. Ai de mim que ainda sou cristã! Cafeína meio que começou a apodrecer depois que pariu, e ela pariu porque eu quis, pariu por mim, por minha culpa. Eu sei que o cio é um acontecimento orgânico, a biologia tem ares tirânicos. Tem uns períodos dos meses que as cadelas de lá de casa ficam doidas para dar, e nós nunca deixávamos até que um dia deixamos. Na minha criação, o sexo só foi autorizado (porque uma autorização era necessária) depois de muita insistência. Eu sempre quis filhotes, mas só consegui que meus pais os consentissem quando Cafeína já estava velha. Não sei se ela os quis, porque não sei se os bichos têm querer, porque não sei se os homens têm querer. (Aliás, se o homem, essa concepção milenar, não tem querer, acho que a mulher, essa concepção contemporânea, tem menos ainda).
Eu gosto muito das intérpretes da dor feminina. Uso “feminina” porque é uma palavra forte e porque o que é forte quase sempre é bom, ainda que eu não ache que o feminino seja uma essência platonista. Gosto muito de Gal Costa, gosto muito até de Salma Jô, que foi “cancelada” (nem sei se o cancelamento é uma coisa que existe). Dizem que eu pareço Clarice, mas acho que dizem isso menos porque nos parecemos e mais porque escrevemos coisas de mulherzinha. Detesto ser mulher, mas a verdade é que sou mulherzinha pra caramba. Sou uma mulherzinha melancólica óbvia pra caramba. E daí? Elena Ferrante também é, e eu a adoro.
O que há hoje em suas gavetas de inéditos?
Todas as minhas revoluções copernicanas, não à toa, me levaram a escrever. Eu não me lembro de começar a escrever pensando que queria fazer como um ou outro autor, mas o assombro que eles provocam é tão grande que seus resquícios se incorporam com naturalidade à escrita. Depois que li Machado de Assis, aos 15, pareceu muito simples e muito natural que eu escrevesse também. Daí surgiu “Perdemos o futuro”, em 2015, o ensaio que eu comecei a escrever achando que era um artigo porque não sabia nem o que era artigo e nem o que era ensaio (risos). Ele é um texto sobre a escola cuja força está justamente em descrever a perspectiva de uma estudante, uma adolescência. Eu gosto bastante dele e fiquei muito feliz quando recebi o convite da professora Maria Virgínia Dazzani, professora de Psicologia da UFBA: agora “Perdemos o futuro” vai compor o corpo bibliográfico da disciplina “Psicologia e Educação” e vai deixar de ser tão inédito assim.
Há também “Deserção” (2017), o meu primeiro romance, que esboça as bases de minhas inclinações estilísticas. Embora eu tenha desenvolvido uma relação estranha com ele após a sua conclusão, só há “Cães” porque houve “Deserção”. Ainda não decidi o que farei com esse texto, mas tenho pensado em sintetizá-lo num novo tratamento. Quem sabe incorporar o seu argumento central em um próximo romance, talvez.
Qual o lugar que a literatura ocupa hoje em sua vida?
Dentro da oposição clássica entre empiristas e racionalistas, os primeiros que defendem que o conhecimento advém da experiência, da “transpiração”, e os segundos que são do time da “inspiração”, hoje a literatura ocupa em minha vida um lugar ordinário, bastante técnico. Eu gosto de pesquisar e experimentar. Não gosto tanto dos ares místicos que imputam à arte, mas é provável que esta resposta mude com o tempo – há cinco anos eu diria uma coisa completamente diferente.
Quais são os seus desafios enquanto escritora independente?
A tiragem média de um escritor publicado por uma editora grande no Brasil é de cerca de 2 mil exemplares, que são vendidos ao longo dos anos. Eu tinha o objetivo de vender ao menos 300 exemplares, o que eu achei que levaria alguns meses, mas eles esgotaram em poucas horas! Isso me deixou bem feliz, porque toda a divulgação e distribuição são por minha conta – o que é meu maior desafio, acho. O livro foi bem recebido na minha bolha (risos) e isso me alivia – às vezes a gente não consegue convencer nem os nossos próprios amigos, não é? Acabei aprendendo que o marketing é uma corruptela da literatura: ambos os campos giram ao redor d'uma narrativa, uma historieta. Tentei encontrar a história da história de “Cães” e difundi-la. Os memes também me ajudaram muito! Agora, estou lançando versão e-book de “Cães” e tentar fazer com que o livro chegue um pouco mais distante de mim.