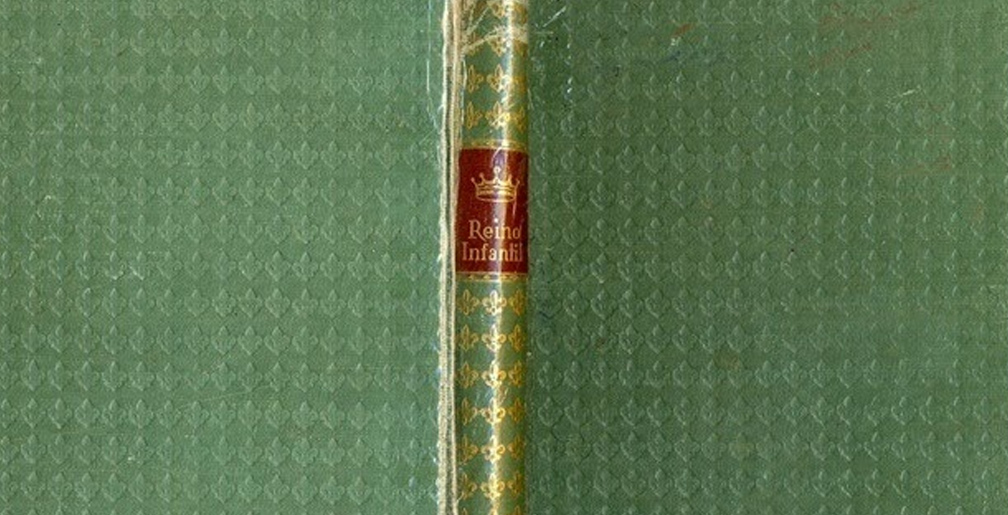Quando eu li Bolaño
Começo a escrever esse texto com a seguinte imagem em minha mente: é 1928, Virginia Woolf, então com 46 anos, já é uma escritora conhecida e respeitada, e acaba de concluir seu mais novo trabalho: um romance chamado Orlando, que mais tarde se tornaria um clássico da questão de gênero, e da literatura. É noite desse dia, e como era seu costume, Virginia escreve como se sente em seus diários. Entre os desabafos sobre as amarguras do estado puerperal que se segue à escritura de uma grande obra, comenta ter lido Proust algum tempo após o jantar e depois colocá-lo de volta na estante, perplexa, pensando em suicídio, tomada por sensações horríveis e pela conclusão de que parecia não restar nada a fazer, de que tudo o que ela fizera, comparado à obra do francês, parecia insípido e sem valor.
Então começo a refletir sobre que escritor jamais sentiu algo semelhante, e sobre quando ou com que frequência o mesmo aconteceu comigo. Claro que não foi apenas uma vez, admito, mas qual foi a mais importante?
Continuo a reflexão: meu primeiro contato com essa angústia se deu ainda na adolescência, quando finalizei a leitura de Crime e Castigo e pensei, com o atraso e a ingenuidade que então me eram imperceptíveis, Meu Deus, o que se pode escrever depois disso? Passei algumas semanas amargurado — na época eu era presunçoso como a maioria dos adolescentes, e por tirar as melhores notas da minha turma em redação me considerava um, pfff, grande escritor, e Dostoiévski me colocara no devido lugar, mostrando que eu jamais lhe alcançaria os sapatos —, mas concluí, após alguns meses, que havia um Freud e tudo o que ele influenciara direta e indiretamente entre Dostoiévski e minha geração, o que significava que alguns autores já haviam conseguido ir um pouco além dele graças tão somente à eventualidade de terem nascido após o terceiro grande golpe no narcisismo humano.
Então não, Dostoiévski não foi o mais importante nesse sentido, apesar de ser um dos autores mais importantes da minha formação como leitor e diria até mesmo como pessoa (inclusive foi a ele que decidi homenagear quando escolhi um nome para minha biblioteca particular).
Mas e depois de Dostoiévski, houve algum outro?, passo a me perguntar, e então penso em Henry Miller, cuja obra me atingiu mais pessoalmente do que literariamente, e que decido dispensar tão somente porque aqui a abordagem é outra. O mesmo vale pra Salinger, pra alguns beatniks, pra Rimbaud e Hermann Hesse: autores cuja obra me atingiu sobretudo por uma espécie de identificação pessoal, existencial, filosófica, mas nunca, ou pelo menos não predominantemente, literária.
E então veio Bolaño, e é aqui que resolvo me deter.
Roberto Bolaño: um chileno magricela que faleceu aos 50 anos, em 2003, por causa de problemas renais, e um gênio literário de primeira grandeza.
Nosso primeiro encontro se deu como se dão os melhores primeiros encontros entre leitor e escritor: por acaso numa livraria. Seu livro era o único exemplar da pequena Saraiva de João Pessoa, estava um pouco sujo pelo manuseio dos clientes e naquele dia eu não procurava nada específico. O portentoso volume de 2666 se destacava espremido entre alguns livros raquíticos de Borges (a clássica organização alfabética por sobrenome do autor), e foi com o cenho franzido numa expressão de curiosidade — Que significava aquele título? Quem era aquele autor? — que eu o retirei da estante, sentei numa cadeira e o folheei.
Poderia romantizar agora e dizer que foi o livro que me escolheu, que foi algo místico, uma espécie de “amor à primeira vista”, e o leitor poderia comprar essa versão sem nenhum prejuízo da verdade, que é a seguinte: algo que até hoje tenho dificuldades para especificar me convenceu a comprá-lo.
Infelizmente, quando verifiquei o preço me dei conta de que era muito caro para que eu, naquele momento um estagiário com apenas quarenta mangos na carteira, pudesse pagar por ele. Assim, o recoloquei na estante e fui embora com uma edição de bolso da L&PM de um livro póstumo do Fitzgerald.
Ao chegar em casa, uma das primeiras coisas que fiz foi pesquisar pelo autor na Wikipédia, e estava online no MSN quando Gabriela Sitta, amiga virtual que conheci graças à paixão comum que nutríamos por Henry Miller nos tempos do Orkut, ficou online e começou a me falar que estava lendo um livro maravilhoso: 2666, de um chileno chamado Roberto Bolaño. Fiquei surpreso com a coincidência e disse que naquela mesma noite eu quase comprara o livro, ela me explicou que ainda não havia terminado de ler, mas já estava totalmente fascinada por ele, e nos despedimos com a promessa de que eu o leria e depois diria o que achei — nossas conversas eram quase sempre apressadas.
Aquela conversa ligeira e de poucas palavras, contudo, foi suficiente para me deixar pensando no livro o resto da noite. Para completar, Gabriela havia me apresentado Javier Marías meses antes, e portanto eu me sentia seguro em relação ao seu bom gostoo. Assim, tomei uma decisão: na manhã seguinte iria à livraria e compraria o livro no cartão, o qual prometera a mim mesmo deixar de usar até que tivesse quitado minhas dívidas.
No dia seguinte, quando saí do estágio, ao invés de pegar o ônibus pra casa fui à Saraiva e comprei aquele exemplar todo grudento. Comecei a leitura ainda no ônibus de volta (sempre li nos ônibus, portanto para mim aquela história de descolamento da retina não passa de um mito), e o estilo do autor a princípio me pareceu estranho; depois, apressado, como se fosse a obra de alguém escrevendo sob ameaça de uma bomba relógio, e então já não achava nada, eu estava simplesmente, como costumo dizer, absorvido pela obra, e doutrinado pelo estilo.
E mais: Apaixonado, enquanto leitor. Humilhado, enquanto escritor.
Quando terminei a leitura, alguns dias depois, o que fiz assim que me recuperei do choque e da book hangover (que passaram a traduzir como ressaca literária: a incapacidade de começar um livro novo porque você ainda está imerso no mundo do qual acabou de ler) foi voltar à primeira página e recomeçar tudo de novo. Não o fiz porque havia algo que precisasse entender melhor, mas o fiz como alguém que, saciada a fome, repete o prato tão somente porque estava gostoso demais.
Os livros seguintes do chileno foram o meu destino óbvio: fui atrás de Detetives Selvagens, que começava com o diário de um estudante de Direito insatisfeito (como eu), meio resignado em relação ao seu futuro jurídico (como eu), e que queria ser escritor (como eu!), e seguia com um coro de vozes singulares a construir um mosaico de narrativas, resultando num deslumbrante espetáculo literário. Também fui à procura dos livros menores, dos contos, os primeiros romances e, apesar de mais nenhum de seus livros terem causado o que 2666 e Os Detetives Selvagens me causaram, Bolaño sempre me deixou meio atordoado, como se eu tivesse passado um round inteiro num ringue com o Muhammad Ali.
Foi após ler Bolaño que eu senti o que Virginia Woolf sentiu em 1928: a perplexidade, a sensação de que não restava mais nada a ser feito, a verdadeira angústia do escritor que se vê diante de uma obra superior a qualquer coisa que ele jamais pensou em construir.
Anos mais tarde — e após várias releituras —, foi com um sorriso no canto dos lábios que li uma crítica do Ronaldo Bressane que começava com a declaração de que, “para qualquer escritor, a leitura de um romance como 2666 é uma sonora humilhação.”
Eu não discordo disso.
* Roberto Denser é escritor paraibano radicado na cidade do Rio de Janeiro. Ex-estudante de Letras e bacharel em Direito, trabalhou como ajudante de açougueiro, vendedor ambulante de sandálias magnéticas, professor de português substituto, agente censitário e jornalista freelancer. Publicou o livro A Orquestra dos Corações Solitários, uma coletânea de contos sobre a solidão inspirados nas músicas dos Beatles, além de alguns contos em jornais, revistas e antologias. Atualmente trabalha em seu primeiro romance.