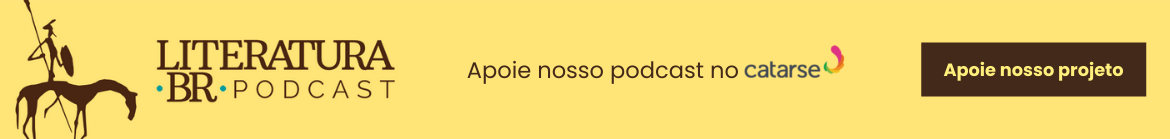A poesia de Pedro Gabriel
Foi na véspera que enlouqueceram: ela desatinou: meteu a pequenina escultura de barro entre os dentes e mordeu com suficiente força para quebrá-la a base. Ele se lembrou, passada a ressaca, de recolhê-la do chão, porquanto estivesse praticamente inteira, e repô-la na estante dos livros, sobre o maço de cartas, lugar onde ela usualmente a deixava. É preciso respirar, tirar os óculos borrados. Observo o copo de café enquanto perfaço a rota da minha desgraça, ao fundo da minha miséria. Sempre morreremos à véspera. Não te deixei – fiz com que me deixasse. A cada degrau que você descia, esmagava-me a cara o travesseiro: um estertor vivo de espírito no meu sono de todas as noites, a restolhar. O inchaço dos teus olhos, numa espécie de exortação patriarcal, dizia para que eu renunciasse a decisão, e eu calei, sentindo o mesmo surdo-mudo disforme de quando éramos amantes. A coisa-não, outrora tão imponente no meu gozo, tão viva no esperma que te escorria pelas pernas, eu não te disse, menos por crueldade que por impotência. Impotência que assistia agora à diáspora dos planos futuros. E aquele meu olhar azimute, olhar ignorante, virou-se, deparando-se com um corpo estranho que estranhamente te enchia as retinas de lágrimas... Sofro saudades, meu amor, sofro de dentro, do fundo, como a mãe que aguarda inutilmente por tomar aos braços e beijar o filho natimorto recém-saído do útero. Amo-te, amo-te com desassossego; amo-te os seios envelhecidos pela minha boca, amo-te o espectro mudo do teu corpo; amo-te a ti, a ti, a tua forma, o teu gozo, o teu corpo além do teu corpo; amo-te tanto, tanto, com tanta pujança, com tamanha angústia e revelia, com desmedida demência e igual desespero que, como diz António Lobo Antunes, “já te não sei amar” e recolho-me, sob delírios, para debaixo das mesas e cadeiras e memórias.
* * *
Em tempos eu fui o próprio silêncio desta besta: devoraremos até quando da autocombustão. Enfurnados, apontando o indicador do desespero para todas as direções e para si próprio: todos os corpos presos na mudez e condenados ao giro da roda arcaica do despedaçamento; condenados a ser sempre este, aquele... mas sempre este bicho tão familiar e tão estranho.
Os lusitanos têm uma forma peculiar para se referir ao terno que vestimos: para eles, veste-se um fato. Português de descendência, ele, que raras vezes faz uso da casaca, veste hoje um fato negro. Essa mão fria, naturalmente encarquilhada pelo tempo, a tocar-me o cotovelo, conheço-a: é a mão da minha tia-avó. Mortos pelo tempo. Mortos pela distância. Quantos de mim morreram nos meandros inóspitos deste pardieiro? No necrotério onde guardo meus mortos, vez em vez abro uma gaveta e me deparo com um tipo desses. Ela diz algo. Se soluçasse menos... Talvez se eu aproximasse mais o ouvido esquerdo...
- Está gelado.
Espera até amanhã. Hoje está frio, está tarde. Agora é tarde. Está gelado, faz frio. Mas hoje não faz frio: hoje é o último dia de setembro. Vejo-o de cima. Homens graves olham de cima, não? Mas tu deverias. Ah, o detalhe, o esperado detalhe. Um detalhe que segue perscrutando o itinerário do teu mapa facial e traz-me à intuição dezenove séculos de ciência cristã: a vida nasce do inseto que entra pela boca do meu avô. Não tens mais vias por onde morrer: logo tornar-se-á esterco, estrume, berço para as larvas dessa mosquinha. O que nos difere, além do teu mau cheiro, é que eu existo. E, embora superficialmente parecidos, o meu corpo ainda tem segredos; o teu é uma palavra sem som nem significado. Se te coloco no tempo presente, como se ainda existisses, o próprio tempo certifica-se de me dissuadir. E se hoje choram a tua morte, veja bem, creio que choram por não mais poderem punir-te.
Nesta saleta, onde um cristo de madeira, sustentado pelo quarto prego, estende os braços sobre ti, não sei se fico. A luz corta a soleira da porta, a luz do Sol. A luz que te cobria, cobria também meu corpo pequenino: era como chamavas aquela luz que bate à soleira da porta: banho de sol. Era como fazias à tarde, após dar-me colheres de chá no jogo de damas: montava uma fortaleza de travesseiros, para que eu não caísse da cama, ao tempo em que deitava teu corpo ao lado, apenas para certificar-se. Mas hoje, nesta saleta, se viro o rosto, a palidez da tua pele emana um feixe de luz branca que passa pelo prisma do meu corpo e forma espectros contínuos nas caras dos presentes: amigos teus que eu não via há anos; primas carpideiras; filhas maltratadas por ti, pedindo para que esperasses o amanhã do amanhã; filhos abandonados por ti. E eu. E eu? Eu, que sempre fui teu preferido; eu, que ganhava de ti presentes e carícias. E eu?
Eu sofro da mesma praga que te matou e que infesta os espectros multicores nos rostos das carpideiras e da filha que tantas vezes chutaste e cuspiste a cara: o coração: a estupidez encarnada; a estranha forma de idiotia que serve unicamente à finalidade de bater e bater e bater incansavelmente contra o peito e que é, por excelência e com razão, considerada o símbolo supremo da vida; eu, dizia, que tenho ordinariamente este músculo canhestro, pela transa genética de sabe-se lá quantas gerações, socado ao lado esquerdo do peito, eu creio que ele, ao se dar conta da improficuidade dos seus movimentos – e da sua própria - , cessa repentinamente, como foi o teu caso.