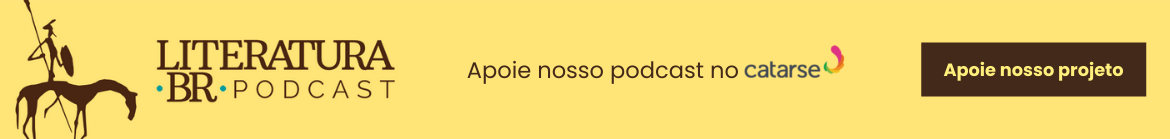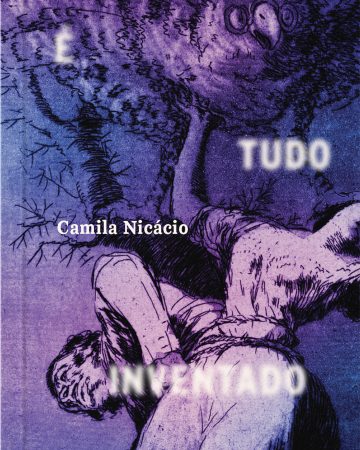Isto aqui não é um manual
Escrever, de Marguerite Duras, reeditado pela Relicário em 2021, não é um manual, nem um tratado "sobre a escrita"
A literatura pelo reino?
Os cursos de Letras podem ser uma longa vigília. A vigília de um grupo de especialistas que perdeu o jaleco branco e o lugar entre as disciplinas nobres, mas que ainda se embola às portas fechadas do laboratório, esmolando um pouco do ar abafado das certezas.
Mas quem é expulso de qualquer “paraíso” sempre acaba por fundar seu próprio pedaço. Há então gente que bebe à saudade do que foi, ou ao despeito pelo que perdeu, ou à liberdade do que nunca teve.
Seja como for, a vontade de provar seu direito de existir é o que faz toda essa gente se pertencer.
Sim, o direito. O direito para a literatura, o direito à literatura, o direito pela literatura, o direito, só. É aí que os exilados se entregam a uma vigília pela validação, e que se confunde com procurar respostas para “literatura o que é?” “literatura por quê?” “literatura pra quê?”, e suas variações.
Para gritar “literatura sim!”, inventam-se caminhos pelas teorias. Afinal de contas, como vender o peixe sem apresentar (e salgar) suas qualidades – de onde veio, quanto pesa, do que se alimenta, para que serve etc.?
E quem faz o trabalho ingrato de vender o peixe? Quem, prostrado atrás dos manuais, estudos, tratados, assenta a literatura em “estado de dicionário”, quem abre a boca para dizer “literatura é...”.
É claro que toda missão tem perigos e falsos atalhos. E o maior deles talvez seja negociar “a literatura pelo reino”, oferecer uma em troca do outro. Esse é o caso quando os codificadores, em luta por um domínio para chamar de seu, fazem da literatura refém de uma incessante conceitualização, com cheiro de justificação. É aí que ela – e as tardas conquistas em seu nome – está em perigo.
Isto aqui não é um manual?
Em qualquer formação em Letras que se preze, o aluno é saudado com manuais, estudos e tratados sobre a escrita literária.
Ao longo do curso, eles continuam a surgir de todos os lados, disparados como mil e uma flechas procurando acertar o alvo. Até que chega, como chegou para mim, aquele momento crítico, em que ou abraçamos o que a literatura (não) é, ou tomamos o caminho da rua.
Dentre essas leituras, duas em especial me fizeram querer ficar: Um teto todo seu, de Virginia Woolf, e Escrever, de Marguerite Duras.
Junto a outras, como Clarice Lispector, as duas ocupavam a vitrine das escritoras estranhas, resistentes ao leitor e por isso difíceis de “vender”.
A tal “Duras” era uma indochinesa (da Indochina, hoje Vietnã) de pais franceses, e, a julgar pelo sobrenome, eu a imaginava fazendo jus aos francófonos, ossos duros de roer, moda perpétua entre os estudantes de Letras, de todas as idades e tamanhos.
O rodapé biográfico de Duras, como não é incomum que aconteça, chegou até mim antes da leitura: escritora e cineasta, crush de Lacan, menina dos olhos dos psicanalistas, livre, uma casa, muitos amantes. E eu, que sempre fui de atentar para biografemas antes mesmo de saber que um certo Barthes lhes dera nome, me demorava a contemplar as fotos daquela mulher que entregava a cabeça às mãos, sempre cheias de anéis, enquanto empunhava um cigarro prestes a queimar.
Em uma aula da professora Lúcia Castello Branco, que tinha o hábito de colocar na roda os exemplares pessoais dos livros, vi o corpo de letras de Duras pela primeira vez. Ele se vestia em brochuras finas, títulos sóbrios (e até, alguém poderia pensar, pobres): O amante, A dor, Amor, O deslumbramento de Lol V. Stein, Escrever. O texto, este era uma carne magra, de uma franqueza discreta e sem comentários, sem reticências.
A disciplina em questão abordava logo aquele que não era romance, mas um ensaio sobre a escrita, Escrever, publicado em 1993, pouco tempo antes da morte de Duras. A tradução brasileira existente à época andava esgotada há muito, o que elevava o status de cult do livro.
Uma de suas passagens, repetida como mantra pelos que sonhavam em ter seu nome na capa de um livro, ampliava a sua fama: alguma coisa sobre o não-poder-escrever-para-escrever. Eram altas as expectativas por uma monografia definitiva sobre o caminho da literatura, ou por um manual com conselhos/truques para virar escritor.
Só que não era um manual.
A escrita x escrever
Escrever é considerado o testamento escritural de Marguerite Duras. Gosto de pensá-lo como uma espécie de coda, a seção que encerra uma composição musical e que revisita todos os elementos nela apresentados.
Desde 2021, o leitor brasileiro pode novamente ouvi-la em reedição da Relicário, reexecutada pela tradutora Luciene Guimarães de Oliveira. A boa notícia é que ele é só o primeiro entre outros tesouros por vir (o segundo, Hiroshima, meu amor, acaba de ganhar a praça), reunidos numa coleção exclusivamente dedicada à Marguerite Duras.
A nova edição convida outros quatro textos da escritora, e a conversa entre eles e o ensaio-título é assunto para outra hora. Agora quero falar de um detalhe – que não é detalhe – do projeto gráfico da Relicário: todos os títulos levam um grande ponto final.
Não, não se trata de um adorno gráfico. Ponto, em Duras, é letra. É a pausa, que é, também, música.
A primeira vez que abri Escrever, topei com uma nudez enigmática, ou um enigma nu. O texto, de olhos fechados, parecia meditar. Falava sem ruído (só hoje sei que era o silêncio que falava). Nos períodos curtos, os pontos finais eram a principal arma em uso, como o som que buscava de volta o silêncio.
Aquela era a assinatura durassiana: escrever o intervalo entre a inspiração e a expiração do texto. Havia nesse gesto um respeito pela coisa, como um pintor que, a cada vez que toca a tela branca com o pincel, dá um passo para trás.
A coisa era a escrita. E a autora, só, absolutamente só, falava sobre ela sem o coro de nenhuma tradição, sem nenhuma fuga pelos conceitos. Se algo em Duras se confirmava estranho era abordar seu objeto como uma entidade viva, presente, mutável e – como não dizer? – feminina. E mesmo a conhecendo, de perto e de dentro, não forçava com ela nenhuma intimidade. Duras falava como uma estrangeira, como uma exploradora que, a cada avanço, vê o mundo ficar novo outra vez.
Este é o mundo não da escrita literária (se esta for mais uma ideia burocrática sobre literatura), mas do escrever. Escrever restitui a escrita ao infinitivo, para, só assim, poder conjugá-la em primeira pessoa. Porque só em primeira pessoa ela pode ser experimentada: por dentro da casa, e não pelo lado de fora, pois é só nela que se pode fazer a solidão deste “escrever” que “não posso”, nem ela nem eu e nem você.
Em Escrever, Duras olha a escrita como cega, enquanto, lúcida, lhe dá o braço. Dentro da casa, dentro da noite, ela nos mostra como é possível ir e vir. Afinal, é preciso criar primeiro a condição – a casa, a solidão. Depois, a ação – escrever.
Para provar do real impossível do escrever, é preciso renunciar à escrita cheia de si, aquela que já é antes de ser. Esta já tem no mundo a sua recompensa. Vamos chamá-la de escrita diurna, consciente demais, encantadora demais, segura demais para a selvageria do escrever.
A coda de Duras, assim, não pode ser um mero tratado sobre a escrita. E como poderia, se diferente das numerosas teses que a emolduram, ela não se escreve ao lado da leitura – do falar sobre que a precede (ou sucede)?
Escrever é “o oposto de todas as leituras”.
É o falar sobre que, do alto de sua claridade, diz que o livro será, ou deve ser, isso ou aquilo. Para Duras, é a negação da “noite”, violência contra o escrever, trapaça contra o desconhecido.
Contra ele, não há imunidade nem anteparo. Não há contra o desconhecido. Todo arsenal de defesas é infantil diante de um novo mundo. O desconhecido é o que não podemos contornar por fora, a passeio.
O único caminho é por dentro. Render-se – é isto ou nada.
A escrita existe quando escrevemos, eu e você, a sós, com ela. Ela dá e passa. Primeiro é preciso render-se. É só aí, quando somos vencidos, que escrevemos.