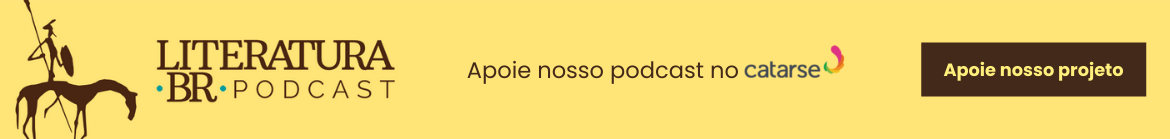Um final para Laura Ferrari
Há alguns trabalhos, mesmo na minha profissão, que não podem ser aceitos.
Naquela tarde, quando me sentei na poltrona da sala de reuniões do Banco Eldorado, e fiquei de frente com dona Maria Cristina Ferraria, eu estava diante de uma proposta assim.
Quando recusei o serviço, a velha sorriu. Perguntou se eu não queria mesmo nada. “O café daqui é delicioso”, ela completou. Me pus de pé. Ela ficou de costas. Puxou uma pacote da gaveta.
Olhei a porta. Fiz um gesto como quem fosse ir embora. Um envelope me foi estendido. Fiquei olhando o bracelete dourado pendendo no braço de dona Maria Cristina. “Pegue”, ela me ordenou, enquanto terminava de beber o seu chá.
“Caralho!”, eu disse, tão logo abri. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a velha se aproximou. Sorriu.
“Não se desculpe”. E me olhou. “Pode não parecer, mas estou acostumada a coisas piores”. Assim que me sentei, a empregada entrou para recolher a xícara.
Fechei o envelope.
“Com quem vocês conseguiram isso?”, quis saber.
As mãos no quadril, as sobrancelhas arqueadas, dona Maria Cristina demorou a responder. Dispensou a empregada. Pegou ela própria a bandeja. Me serviu o café e disse: “Quer dizer que você aceita?”
Precisei de alguns dias para me refazer da enrascada em que havia me metido. Eu iria preso se aquele documento fosse divulgado. Chamei um parceiro do submundo. Friederich Adolf. Já tinha falado por alto sobre o trabalho. No bar, só tratamos de amenidades. Fiz algumas perguntas, antes de chegar ao assunto, Fried não me respondeu. Chamou o garçom.
“Traz uma dose pra mim”, disse Friederich.
“Pensei que você tinha deixado de beber”.
“E deixei”, me falou. “Mas o homem que fui, quando bebia, lidava melhor com tipos como você”.
O garçom quis saber de Fried qual seria a bebida.
“Me vê da pior que você tiver”, ele respondeu.
“Traz duas”, completei.
Brindamos.
“Por falar no homem que você foi, Fried...”
“Desde que você deixou o recado, Noel, eu tive a ligeira impressão de que o assunto seria com ele”.
O garçom estava no final do bar. Com um grito e o palavrão, Fried o fez correr até a mesa.
“Traz outra”. E segurou no braço do garçom. “Eu acho que vocês tem coisa pior do esse guaraná sujo. Não economize comigo. Pegue o que ninguém quer. Quando eu falo em pior, colega, é pior no volume máximo”.
“Não posso aceitar, Noel. Estou aposentado”, disse Fried após quase engasgar quando bebeu a garrafa suja, que lhe trouxeram.
Pedi que me preparassem agulhinhas fritas e um cesto de pães. O garçom falou que eles não trabalham com aquilo. Pedi então que me trouxesse um pão na chapa, eu picaria em pedaços quando viessem. E foi o que fiz.
“Não falo isso porque estou tirando meu corpo fora. Devo muito a você, Noel. Não tive ainda como pagar. Nem sei se vou poder”.
Ofereci uns nacos de pão e uma porção das minhas agulhinhas fritas para Fried, que aceitou.
“O que eu vou te pedir é algo muito aquém do seu potencial”, eu disse.
Coloquei em cima da mesa uma pasta que trazia comigo. Abri. Tirei a foto de Alfonso Zapicán. Arrastei com um dedo até Fried. Antes de olhar o que estava diante de si, Fried bebeu o que sobrara na garrafa, num gole só.
“O que ele fez pra ser morto?”
“Não, não vamos matá-lo”.
“E o que vamos fazer com ele?”
“Vigiá-lo”.
“Porra, Noel”.
Fried levantou-se. Foi até a porta do bar. Abordou o primeiro circunstante que passava. Viu que estava fumando. Pediu um cigarro. Não agradeceu.
Cheguei perto.
“Não sabia que você fumava”.
Fried deu uma longa tragada.
“Eu não fumo”.
Atirou o cigarro ainda inteiro no chão e partiu para cima de mim, segurando-me pela gola da camisa. Me esganava. Pensei que iria morrer sufocado.
“Nunca mais me assuste assim, seu filho da puta”.
Dirigi a esmo antes de pegar a direção da casa de Fried. Ficamos um tempo sem dizer nada. Quando sinal ficou vermelho, Fried puxou a foto que eu havia colocado diante dele.
“O que esse rapaz fez de errado?”.
“Não fez. Vai fazer”.
“Nosso trabalho vai ser evitar?”.
“Não”, disse e procurei um local em que pudesse estacionar o carro.
“Vamos ser pagos para observar os passos dele”, falei. “A avó dele quer um relatório. Quer saber tudo o que se passa”.
“Não entendo”.
“O que você não entende, Fried?”.
“Muitas coisas. A primeira delas é porque você não faz esse trabalho, que é tão simples”.
“O moleque me conhece”.
“Da onde?”.
“Faça as outras perguntas. Essa daí não é necessária para o seu trabalho”, respondi.
Antes que Friederich esboçasse qualquer reação, respirei fundo, e disse: “Olha, Fried. Eu vou direto ao assunto. Durante toda sua vida, Alfonso Zapicán, o moleque que você vai acompanhar cada passo, não questionou a história contada em casa por sua avó”.
“Até que um dia…”, me interrompeu Fried.
“Até que um dia, o jovem Alfonso se deparou com uma caixa de Pandora”.
“Caixa de que?”
“Desde criança, Alfonso foi ensinado que sua mãe era uma guerrilheira e fora morta em combate pela ditadura”.
“E, ao invés de guerrilheira, a mãe do florzinha era uma biscate?”.
“Não sei se a mãe era ou não biscate. Deixa eu terminar a história, Fried. Vamos nos concentrar na nossa missão. Quando a Comissão da Verdade se instalou, a velha pediu aos figurões de Brasília que não mexessem na história da filha. Não queria publicidade. Se houvesse algum documento ou informação relativos a Laura Ferrari que fosse mantido em segredo e enviado até a empresa. A Comissão da Verdade encontrou uma caixa com fotografias de Laura Ferrari. Enviaram até a empresa. Uma bela tarde, Alfonso estava na recepção, viu quando o pacote chegou. Se interessou pelo conteúdo. Disseram-lhe que não podia abrir. ‘Ninguém podia’, disse que encarregado. Alfonso respondeu que não era ‘ninguém’. Pôs-se de frente do elevador impedindo a passagem. Até que a sua avó chegou. Estava formado o impasse. Ela interveio. ‘Não desautorize o meu neto’, ela disse. O pacote foi entregue. A velha ordenou que o moleque não abrisse aquilo. Foi em vão.
“O que tinha na caixa?”.
“Fotos”.
“Fotos?”.
“É. Várias fotos. Tiradas de lugares diferentes. Laura Ferrari abandonou a luta armada pela fotografia. Seguiu em viagem pelo Brasil. Há cadernetas de anotações. Registros. Pensamentos. Essas coisas”.
“Os militares acharam que esse lance de fotógrafa porra louca era só disfarce, então?”
“É o que dona Maria Cristina diz”, comentei, ligando o carro. “O medo dela é que Alfonso, se for investigar, não suporte a verdade toda. Que faça alguma besteira”.
“O cara que executou Laura está vivo?”
“Tudo indica que sim”.
“Seu escroto”, disse Fried com um sorriso triste.
"Que foi, pô".
"Matei a charada".
Não quis entrar naquele jogo. Iria perder.
“O assassino de Laura era do mesmo grupo de guerrilha dela?”.
“Era”.
Fried voltou a sorrir. Mais triste ainda. “Capaz de estar na Comissão da Verdade”.
“Está”.
“E o moleque vai ter colhão pra se vingar do verme?”.
“Tudo é possível”, eu comentei observando o retrovisor enquanto fazia a marcha à ré e seguia para deixar Fried em casa. “A velha está assustada. Quer que a gente acompanhe os passos do garoto”.
“Você não me chamou só pra isso. Eu te conheço, Noel”.
Tentei disfarçar, mas não pude.
“Te deixo em casa?”
“Não”, Fried balançou a cabeça, deixou-se ficar um tempo sem dizer nada. Fez um gesto com a mão. “Me leva de novo pro bar”.
Astier Basílio é poeta, ficcionista e dramaturgo. Autor de mais de dez livros e da peça "Maquinista", Premio nacional de dramaturgia da Funarte, 2014