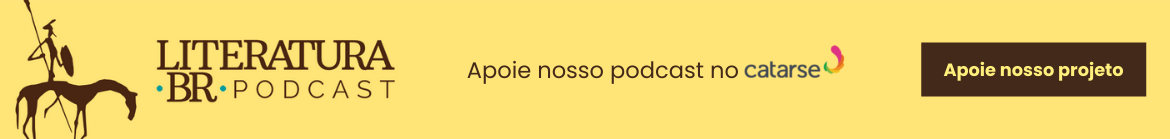O tempo é um telhado de vidro
Minha avó era um dínamo.
Qualquer visita a ela na cidade onde morava, no interior, era sinônimo de muitas andanças. Íamos juntos a feiras, bancos, igrejas, praças, casas de amigos e conhecidos dela. Sempre aquela mão firme, segura, a puxar a minha, pequenina. Eu me movimentava de acordo com seus desejos, às vezes revelados de forma um tanto embrutecida – ela me puxava como quem carrega uma sacola – e assim andávamos juntos boa parte da manhã.
Ainda lembro bem: eu sentado em algum lugar, lendo um livro, e ela gritava meu nome e dizia: “Vamos comigo ali comprar carne de porco!”. Não era um convite, era uma ordem. Querendo ou não, eram mais dois braços para ajudar a trazer coisas – sim, porque ela nunca ia apenas comprar carne de porco. Além disso, naquele tempo, passar na casa de conhecidos também era sinônimo de levar comida para casa. Assim, era comum irmos visitar alguém e sair de lá com um saco de feijão, milho, farinha. E eu achando aquele universo todo muito curioso, muito bonito, exótico. Nada disso acontecia na cidade grande, eu caminhava por outro universo semântico.
Eu chegava em casa às vezes mais cansado do que ela. Não apenas fisicamente, mas muito porque, em poucas horas, eu passava por uma miríade de coisas e pessoas, que me deixava atordoado. Depois disso, não tinha descanso, ela me despachava para o banheiro (onde já se viu ficar sujo e suado dentro de casa?) quando então, enfim, eu estava liberado para esperar o almoço. Isso significava, naquele tempo, que até lá eu já estaria sujo e suado novamente, mas que importava? Eu estava de férias, eu era uma criança de 10 ou 11 anos vivendo as pequenas alegrias de sua infância.
Estar lá era uma festa. A casa sempre um entra-e-sai de gente, os netos, filhos, noras, vizinhos e desconhecidos faziam da própria casa um acontecimento. E eu, neto mais velho, sempre um espécime em exposição. Não que eu gostasse – não só não gostava, detestava. Mas reconheço que achava aquilo tudo intrigante, por ser tão assinaladamente diferente do meu mundo de cidade grande. E meu avô, esposo dela, caladinho, olhos às vezes fechados, às vezes abertos, mas sempre atento a tudo, sempre com uma opinião marota sobre tudo, com aquela mente perspicaz, afiada. Não existia dia ruim ali. E ver a vida centralizada na minha avó – a quem eu tinha grande apego, afinal – era motivo de orgulho, embora ela me obrigasse a fazer coisas que eu nunca gostei de fazer, como ir à igreja. E era com esse olhar pueril que eu passava muitos dias sendo pequeno e me tornando grande.
Minha avó era um dínamo.
Ontem fui visitá-la, e fazia tempos que eu não a via. Alguns anos. Tudo é desculpa para não ir mais até onde ela mora – o trabalho, os cursos, a rotina excruciante, a estrada que leva até sua cidade. E todas são muito válidas, sim, mas são apenas isso: desculpas. Uma olhadinha no horizonte, e a certeza de não vê-la mais lá. Nem assim. Parece que a vida ganhou outros contornos, no qual ela se inclui apenas como lembrança. Memória respeitada e respeitável, mas ainda assim, memória.
Alimentar o amor não é tarefa que se cumpra facilmente ao longo dos anos, e sei que, aqui, quebrou-se um elo. À medida em que a vida vai inserindo obrigações, em que a necessidade de ganhar dinheiro se torna premente, e que nosso próprio corpo vai envelhecendo, não apenas vamos ficando mais preguiçosos, mas aquilo a que chamávamos de realidade e que hoje chamamos de passado, memória e, ainda, algumas vezes, pura invenção, fabricação da mente - que tomamos como acontecido - deixa de ter relevância em detrimento do hoje e do agora, que são os tempos líquidos em que vivemos. Parece muitas vezes inescapável, e se a opção for a de continuar vivo, é mesmo.
Antes uma mulher de fibra, hoje minha avó, aos mais de noventa anos, precisa não apenas de uma bengala, mas de alguém para levá-la de um lugar a outro. A distância mais curta, percorrida dentro de casa mesmo, torna-se uma maratona, e por conseguinte um desafio. O definhar do corpo em minha avó é nítido, embora sua mente continue célere. Só aquele típico ar de ausência comum em pessoas bem mais velhas, por vezes, se instala nela. Mas, chamada a atenção, ela demonstra que está lá, sim, e muito bem.
Fisicamente, entretanto, minha avó tornou-se um sorpro do que foi, uma fagulha que termina caída n’água. Aquela mulher jovem que um dia enviou os filhos para morar na casa de parentes na capital, passando por cima da própria vergonha e orgulho, para que eles estudassem e tivessem oportunidades diferentes da enxada, comum a todos os filhos dos que ficavam; que resolvia tudo dentro de casa, que cuidava da cozinha, dos irmãos, do terreiro onde criava suas galinhas (prontamente abatidas quando lá chegávamos no primeiro dia de férias, para a hora do almoço), com o zelo e o pulso firme – progressivamente caminha para a escuridão, que chegará para todos.
Em dado momento, ela me pediu para levá-la até o quarto, queria deitar-se. Fui lá erguê-la do sofá e caminhar, a passos de cágado, até sua cama. No trajeto, ouvi-a dizer que agora também seus joelhos não queriam obedecer. E, muito consciente, disse: “Está vendo como sua vó está diferente? Nem caminhar sozinha eu posso mais. Só peço a Deus que eu não fique entrevada numa cadeira de rodas”. Assim que terminou a frase, estacou, olhou bem dentro dos meus olhos e, numa atitude-reflexo dos tempos de outrora, apertou minha mão com firmeza e disse: “Ah, se ficar, não tem nada não”. Soltou a outra mão da minha e levantou-a até a cabeça, para onde apontou com um dedo cuja pele, fina e enrugada, denotava sua imensa pusilanimidade: “O que importa é continuar boa aqui. O resto é resto, não é, meu filho?”. Como eu não tinha uma resposta para isso, nada disse. No quarto, com a bengala numa mão, pediu para eu soltá-la. E no entreito vão entre a cama e a parede, onde só cabia ela, ajeitou-se sozinha na cama, onde eu a cobri com um pano nas pernas; sentia frio. Disse que queria ficar deitada daquele jeito, e que, chegada a sua hora, queria ficar num caixão naquela posição, com um terço bem bonito a enfeitar-lhe o pescoço. Deixei-a dormindo, a boca num ricto que já parecia que ela estava mesmo morta. Tânatos está presente em cada detalhe.
Impossível não sair dali pensando sobre a linha do tempo entre o vir ao mundo e a extinção. É nessa obsessão do pensar sobre o tempo que me dou conta, mais uma vez, de nossa extrema fragilidade.
Abraçamos a vida com mais ou menos afinco, realizamos, perseveramos, e no entanto, ao final de tudo, só podemos continuar através daqueles que nos amaram. Não há outro final possível, e para alguns, viver pode até parecer uma história sempre fadada a um final infeliz.
Mas não é. Cedo ainda nos damos conta de nossa própria finitude. E este dar-se conta vai sendo, às vezes mais, às vezes menos, às vezes nunca, refletido, ponderado. E não importa em que opção você esteja, passou dos 15 anos, meu caro, você sabe. Ninguém morre achando que ia ficar imortal, a menos que se morra naquela faixa entre as primeiras horas e os dez, onze anos, quando pouco ou nada compreende-se do que é morrer.
O arco da vida torna-se um bumerangue. Você veio do nada, é para lá que você vai voltar. Se você crê em algo, então, adapte-se: você veio de algo, e para este algo você retornará. Pouco importa.
O certo é que o declínio começa ao nascermos. E que entre um extremo e outro, a vida pode, sim, ser extraordinária.