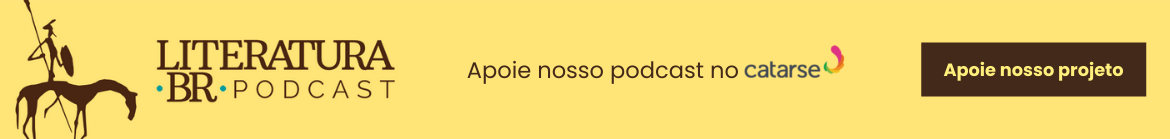Entardecer
Um solzinho às cinco da tarde é bom para pele e eu preciso sentir a vida fora de casa, fora da cadeira de balanço do alpendre. Eu ainda estou viva, ainda enxergo, ainda ouço, ainda falo. E ainda ando. Com minhas pernas eu sou livre para descobrir o que ainda não vi do mundo.
Uma velha também tem vida, por mais que a morte seja uma amiga à espera. Ou o lucro por uma vida produtiva. Velha também vê a beleza dos homens, tem boca e pode beijar. Eu fui produtora de uma humanidade, a mãe de uma geração. Ainda estou viva!
Caminhando em um entardecer, vejo o mesmo de forma diferente; como se amanhã o dia raiasse comigo morta em cima da cama. Filhos, netos e amigos chorando pelo meu descanso. Deixarei muitas lembranças para jantares natalinos. Senhora recatada e ousada! Não, acho que deixei a desejar na ousadia pelos bons modos.
Já não caminho no mesmo ritmo. Nem brilho com o mesmo fulgor de outrora, porque também as estrelas perdem o brilho; e caem. Estou absolutamente de pé. Minha juventude está em mim, a juventude que guardei para usar quando a força ousasse fraquejar. Acompanho os passos devagar, mas não paro. E agora que estou fraquejando, devo eu me apoiar para não cair?
Uma mão foi ao encontro da minha. Agarrei-a. E por um segundo, já não lembro onde estou. Não mudaria nada nisso: é como a inocência congelando na barriga tudo o que comi, as mãos que suam, o tremor das pernas e a desordem das palavras. É a força da mão que agarrei, que está suando como a minha.
E já não sei quem eu sou ou o que era: emerge o melhor sentimento. Mão alerta que está a me oferecer suporte no momento exato em que eu fraquejar sem a força que ainda me deixa de pé e livre para andar. A juventude sopra pelos meus lábios, na boca de uma velha que nunca desaprendera a amar. Velha também ama; e beija.
De nada importa se eu não sei coisa nenhuma sobre ele, estou entregando a minha mão. Também a minha alma, porque a mim ela já não pertence e por mais que eu questionasse os meus atos, não encontraria razões para explicar o meu sentimento de entrega e pertença. Nem ao menos sei se já cheguei a me pertencer ou se tudo o que digo é fruto da doação. Agora não me pertenço nem me lembro de quem sou. Entrego-me a alguém que nunca vi, sem medo de querer acompanhá-lo. Em seus olhos há tanto medo quanto nos meus: sem saber que nos conhecemos, estamos de mãos dadas. Como dois velhos amantes sentados na beira de uma calçada, reverberando o passado do qual eu não poderia esquecer e que, apesar dos esforços, não me lembro.
Sinto uma sensação nova, parecida ao nascer. Eu tinha fechados os olhos para o que a mim era devido e ao abri-los pude tomar as rédeas do que é meu: estou assustada com meu poder – tão absurdo quanto a posse dos desejos. Sou uma mulher levantada; mulher que nasce livre e que ergue o braço para mostrar tal liberdade. Estou radiante como a luz do mundo: mulher grávida. E ele é o homem: tão vivo quanto eu. Estamos conectados pelo desconhecido. E não há velhice. Novamente, sinto o acolhimento que senti aos quinze, dezesseis, dezessete. Uma mulher e um homem se conhecendo em uma tardinha. Aquela moça que oferecera a sua mão e honra para um belo rapaz segurar.
Não sei aonde iremos, mas nossas mãos permanecem juntas como se fôssemos próximos. E somos. No fundo, nunca entregaria minha mão a qualquer um e nos reflexos dos olhos desse homem vejo tudo que construí. Como se nada fosse novo, escuto a repetição de uma canção muito bonita, cantamos pelos olhos aquela nossa velha cantiga.
Beijou minha testa. Sinto-me criança protegida, porque de alguma forma eu estou segura por um estranho que me domina – de forma que aflora minha liberdade de ser mulher. A vida se ergueu sob meus ossos de repente; não em lembranças, mas com sinceras sensações valentes que se movimentam de dentro para fora. Mais que encantamento: um beijo molhado na testa e duas mãos se apertando, desejando-se. E estou de pé, salva de uma queda sem ossos machucados.
– Para onde vamos? – perguntei.
– Para casa.
Então vamos para casa, porque somos um casal como antigamente. Meu marido, aquele que dei a mão há cinquenta e cinco anos. Sim, eu aceito; na doença, na tristeza, na falta de dinheiro, até que paremos de existir. Se a morte nos separar, será pela eternidade que vivemos.
Eu me lembro desse desconhecido, meu marido paciente. Pegará minha mão novamente, mesmo que eu recuse a dá-la, como faria com um desconhecido. Então ele apanhará paciente e firmemente minhas mãos junta às suas, amorosamente beijará minha testa e dirá para irmos para casa. E eu lembrarei que somos aquele casal de velhinhos que senta na calçada para se lembrar de antigamente.
– Sim, vamos para casa.
Saí com os dedos cruzados com os de um desconhecido: estranhamente segura – existindo dentro de um tempo que se refaz em minha cabeça, alertando-me sobre o que eu deveria lembrar. Ao exterior, revela-se algo que sinto por esse homem que tem posse das minhas mãos: amor, tão velho quanto eu.
E meu passeio acaba aqui. Vi tudo como deveria ter visto, deixando o bastante para ingerir outro dia, olhando pela perspectiva de uma última vez – absorvendo a vivacidade e toda a novidade que todo passeio despretensioso oferece; engolindo a vida que brota não sei de onde. Da barriga de uma mulher, acredito.