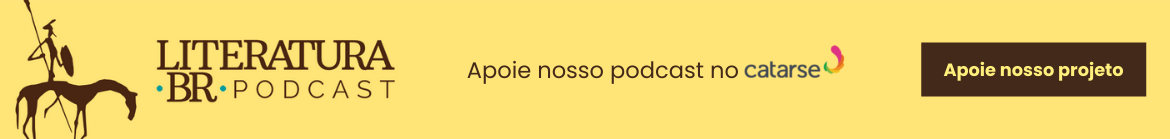A panela clariceana
Leio Clarice Lispector enquanto cozinho arroz. Um olho na panela e o outro na epifania. Na verdade, os textos que sustento em minhas mãos antológicas não têm a mesma centelha dos contos porque são crônicas, mas não são crônicas porque menos epifânicas. Seja na crônica ou no conto, em português ou numa edição em espanhol que me chegou estes dias, tudo em Clarice é assombro.
Um pouco de água na panela e um parágrafo a secar sob o fogo baixo dos meus olhos. Frase a frase, as borbulhas desse mordaz cozimento literário ganham espaço fora e dentro de mim. Quanto mais leio Clarice, menos sei quem ela foi. Não sei cozinhar. Também não sei quem foi Clarice. Quem ela não foi, isso presumo saber: a mulher que, como eu, não morreu queimada. De qualquer maneira, dela conheço o básico, como o básico que conheço na cozinha se reduz a preparar arroz para uma semana inteira.
De pé, parado junto ao cozer lento e silencioso do fogão, leio uma crônica publicada no Jornal do Brasil: em espanhol, “La ‘verdadera’ novela” (1970). Nesse labirinto verbal, Clarice confessa praticamente todas as derrotas que poderiam fazer dela uma escritora de notório fracasso. Mas não... tudo o que na vida de quem escreve é incoerente e assimétrico, nela é perfeição e redondeza: pouca leitura (será?), pouca organização literária, despreocupação com a linguagem a escolher. Não acredito na Clarice que fala sobre a Clarice, esta metaescritora. Não acredito que um dia saberei algo mais que cozinhar arroz e ler Clarice.
Ao escrever com aparente resignação, Clarice, na verdade, reafirmava a aceitação dos seus mistérios e o prazer que sentia em libertá-los de significado. Em vez de cozinhar, foi isto o que aprendi com ela: aceitar os meus mistérios e deixá-los descansar na sua substância muda e inerte, no cozimento do meu corpo visível e esfomeado.
O arroz começa a suspirar uma profunda secura de alho e o fogo do meu olhar se apaga diante da última linha. Fecho o livro de arroz e vou comer as palavras na panela clariceana.