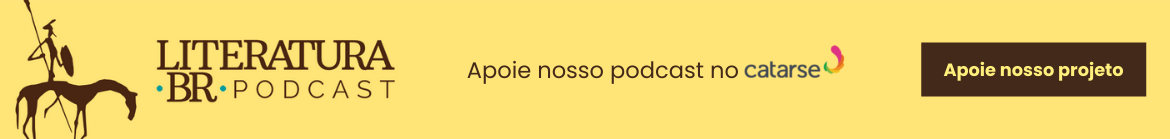Quando ninguém espera
Entrou pela porta aberta que me ajudava a flagrar a noite do lado de fora. Relativamente grande, foi se esgueirando, silencioso, atraído pela luz branca que incide todas as noites no quarto, até ocupar a periferia dos meus olhos. Havia esperado o suficiente: fui lá e matei o inseto.
Fiquei encarando os breves espasmos que suas antenas reclamaram à vida. Então me invadiu uma tristeza, um desconsolo denso, material, quase tangível. Mas era só um inseto, pensei. Só mais um dentre os milhares de sua espécie; só mais um dentre os milhares de artrópodes que ocupam a crosta terrestre. Que crime eu teria cometido?
Não é caso de reivindicar órgãos protetores, entidades de preservação da fauna, pedir perdão aos céus por contribuir com a extinção de um bicho. Não, um bicho não: um inseto.
Para agravar o que se confabulava em meu imaginário, descobri, da pior forma, que sua existência pertenceu à família dos ‘potós’: um odor desagradável se instalou no imediato instante de sua morte. Castigo, só pode ser castigo. O quarto ficou de repente abafado. O ar ninguém podia sentir, e o suor se condensava na testa, enquanto o peito disparava e a garganta-deserto. Medo.
Do inseto? Da possibilidade da morte matada, homicida, inescrupulosa? Medo da capacidade de morte? Medo da existência efêmera do que vive e, portanto, medo da impressão de minha súbita ausência, tal qual o destino estatelado no chão à minha frente?
Eu estudava no momento do acontecido. A porta estava aberta em caminho livre para o lado de fora, justamente para que tudo fosse isso, livre em seu percurso de ir e vir, eu incluso, sem a pretensão de que irrompesse uma chinelada dos céus sem mais nem menos.
O golpe foi barulhento. Atingiu tão depressa, que não deu chance para orações a Gregor Samsa; o destino era um, e o ex-caixeiro viajante até poderia, em ato divino, ter conferido ao seu fiel inseto um exoesqueleto super-resistente, uma quitina reforçada, que suportasse um milhão, dois milhões, quinze trilhões de vezes o próprio peso do bichinho, dando-lhe o caráter de fortaleza intransponível. Até poderia, mas não foi o caso.
Ele fora atingido pelo irremediável instante em que se alarga e comprime, num lapso de segundo, o ímpeto da morte. E então tudo silencia e é um silencio escuro, confortável, indulgente. A gente que fica também silencia. Uma coisa na gente sempre silencia quando está diante do fim.
Tornei a estudar. Um tanto desconcertado, e não sem o emprego de algum esforço para me concentrar novamente. Virei a cadeira, retomei o curso da palavra na folha. E lembrei que o telhado é frágil, lá em cima, e que as coisas podem desabar assim mesmo, quando ninguém espera.
*
Felipe Saraiva nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1993. Graduado em Comunicação Social, trabalha como redator em uma agência de publicidade. Tem poemas publicados em revistas e sites de literatura. Além da poesia, escreve e publica crônicas no Medium (@felipesaraivv). Dispõe as brechas do seu tempo entre a palavra, a fotografia e três gatos.