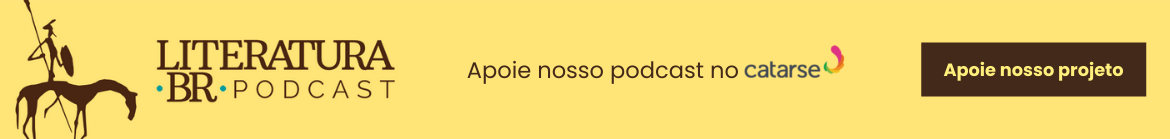Roberto Bolaño e feminicídio na literatura
Roberto Bolaño e feminicídio na literatura:
quando não ser sucinto é um ato político
O escritor Roberto Bolaño (1953–2003) nasceu no Chile e passou sua juventude saltando de país em país, vivendo algum tempo no México, em El Salvador, na França e finalmente na Espanha, onde se fixou. Por muitas décadas, escrever não foi seu ganha-pão, tampouco esteve ele próximo da chamada alta cultura intelectual: trabalhava lavando louças em restaurantes, carregando malas de hóspedes em hotéis e ainda como gari para garantir seu sustento e dedicar-se à escrita durante o tempo livre. Essa experiência pessoal com empregos periféricos e mal-remunerados o inseriu no centro de uma classe social desfavorecida pela sociedade, o que certamente contribuiu para a formação de sua escrita. Um exemplo notável disso é o romance “2666”, publicado após sua morte.
“2666” é um livro longo, denso e vertiginoso composto por cinco tomos, cada um deles abarcando uma parte de uma teia complexa de personagens que vão desde acadêmicos europeus abastados até operários precarizados da indústria mexicana. O núcleo de tudo isso se concentra na chamada “A parte dos crimes”, e gira em torno dos assassinatos em série hediondos de centenas de meninas e mulheres jovens na cidade de Santa Teresa, no México. É a parte mais longa, composta por cerca de 250 páginas. Seja por sua extensão ou por seu conteúdo indigesto, a maioria das pessoas desiste de continuar a leitura a partir deste ponto. É aqui, no entanto, que “2666” deixa ainda mais claro a que veio — politicamente falando.
Sim, “A parte dos crimes” é exaustiva. A cada dezena de páginas ou menos, somos introduzidos aos relatos frios de cadáveres e mais cadáveres de mulheres descobertos brutalmente violentados e lançados em rios, córregos, lixões, terrenos baldios ou mesmo largados para apodrecerem em seus próprios apartamentos. Cada um deles é seguido por uma descrição objetiva do estado de decomposição, da causa da morte, das roupas com as quais cada vítima foi ou não encontrada. A quase totalidade delas foi estuprada, o que significa que teoricamente não seria preciso se repetir e reafirmar isso após cada descoberta de cadáver, mas ainda assim Bolaño jamais deixa essa informação pender nas elipses. Ele diz, através de seu narrador onipresente mas indiferente: essa foi estuprada. A segunda, também. A terceira, também. E a quinta. E a décima. E a vigésima-oitava. E a quadragésima-nona. Foram estupradas, agredidas, apanhadas no caminho para a escola ou o trabalho e mortas, deixando para trás filhos, mães, pais.
Com exceção daquelas cujos corpos não foram reivindicados e identificados, todas possuem um nome, e cada um desses nomes também é incluído por Bolaño após o encontro com um novo cadáver. Apesar do não-envolvimento do narrador, que observa o desenrolar dos fatos sem jamais demonstrar qualquer subjetividade própria, essa riqueza de detalhes é uma forma de colocar o cadáver sobre a mesa do leitor e dizer: veja só. Esta aqui tinha nome, filhos, trabalho e vocações. Agora está morta, e veja como ela morreu. Não desvie os olhos, leitor; Bolaño está mostrando a vida curta da mulher como ela é. Encare-a, e encare-a bem, porque essa aqui já está sendo retirada da mesa para que o cadáver de outra, que também tinha nome, filhos, trabalho e vocações, ocupe seu lugar. Encare esta também.
O cansaço é, claro, inteiramente proposital. Bolaño não quer resumir a condição violenta da mulher, principalmente da mulher de baixa classe social, em nossa sociedade. Não quer dedicar vinte ou trinta páginas a isso. Bolaño quer segurar sua cabeça e forçá-lo a olhar, por 250 páginas. Não há interesse em suavizar nada para quem lê. E assim somos obrigados a caminhar por centenas e centenas de cadáveres de jovens inocentes, entre eles misturados aquelas que morreram nas mãos de um assassino em série e aquelas que morreram pelo ciúme de seus maridos, namorados e de estranhos despropositados. Após atravessar esse lamaçal, quando já estamos desesperados e fedendo a decomposição, nos perguntando quando isso vai ter fim e como as autoridades não fazem nada de concreto, nos deparamos então com a calorosa cena de um grupo de policiais de Santa Teresa reunidos em uma lanchonete, na companhia das seguintes piadas:
Um policial perguntava: como é a mulher perfeita? De meio metro, orelhuda, cabeça chata, sem dentes e horrorosa. Por quê? De meio metro para que chegue exatamente à altura da sua cintura, cabra, orelhuda para você manejar com facilidade, cabeça chata para você ter um lugar onde botar a cervejinha, sem dentes para que não cause nenhum estrago no seu pau e feia pra caralho para que ninguém a roube de você. Alguns acharam graça. Outros continuavam comendo seus ovos e tomando café. O que havia contado a primeira prosseguia. Perguntava: por que as mulheres não sabem esquiar? Silêncio. Porque na cozinha não neva nunca. Alguns não entendiam. A maioria dos tiras nunca tinha esquiado na vida. Esquiar no meio do deserto? Mas alguns riam. E o contador de piadas dizia: aí, gente boa, definam uma mulher. Silêncio. E a resposta: é um conjunto de células medianamente organizadas ao redor de uma vagina. Então alguém achava graça, um judiciário, boa essa, González, um conjunto de células, só você. E outra, esta mais internacional: por que a Estátua da Liberdade é mulher? Porque precisavam de alguém com a cabeça oca para instalar o mirante. E outra: em quantas partes se divide o cérebro de uma mulher? Depende, gente boa! Depende de quê, González? Depende da força com que você bate nela. E já pegando pesado: por que as mulheres não podem contar até setenta? Porque quando chegam ao sessenta e nove estão com a boca cheia. E mais pesado: quem é mais burro que um homem burro? (Essa era fácil.) Uma mulher inteligente, ora. E mais pesado ainda: por que os homens não emprestam o carro para a mulher? Porque do quarto até a cozinha não tem estrada. E no mesmo estilo: o que faz uma mulher fora da cozinha? Espera o chão secar. E uma variante: o que faz um neurônio no cérebro de uma mulher? Turismo, ora. E então o mesmo judiciário que tinha rido tornava a rir e a dizer boa essa, González, muito inspirada, neurônio, só você, turismo, muito inspirada. E González, incansável, prosseguia: como você escolheria as três mulheres mais burras do mundo? Por sorteio. Sacaram, gente boa? Por sorteio! Dá na mesma! E: o que fazer para ampliar ainda mais a liberdade de uma mulher? Ligar o ferro de passar numa extensão. E: qual é o dia da mulher? O dia que menos se espera, ora. E: quanto uma mulher demora para morrer de um tiro na cabeça? Umas sete ou oito horas, depende de quanto a bala demore para encontrar o cérebro. (…) E continuava: como se chama uma mulher que perdeu noventa e novo por cento do seu quociente intelectual? Muda, ora. E: o que faz o cérebro da mulher numa colherinha de café? Boia. E: por que as mulheres têm um neurônio a mais que os cachorros? Para que não beba a água da latrina quando estiver limpando o banheiro. E: o que faz um homem quando joga uma mulher pela janela? Polui o meio ambiente, ora. E: no que uma mulher se parece com uma bola de squash? Quanto mais forte você bate, mais rápido ela volta.
O desapego que Bolaño nutre para com a brevidade é, aqui, didático. Ele se demora o tempo necessário nos crimes até chegar a este clímax de horrores. Nessa cena, também ele se estende. Não há agressão física aqui, mas as palavras, após tudo o que se viu, surgem como golpes rápidos em um inimigo fraco e indefeso, já abatido, na verdade. Bolaño nos força a ouvir as piadas agressivas compartilhadas por um agente da ordem, que arrancam gargalhadas de seus colegas e especialmente de um agente da justiça — pessoas que estão lidando diretamente com as centenas de feminicídios em Santa Teresa. Sente-se aqui, leitor, ele diz, e ouça isso. Não, não tape os ouvidos — ouça. E assim nós, leitores, atordoados, assombrados, nos vemos tão perdidos quanto as famílias das mortas e as mulheres que temem por suas próprias vidas na Santa Teresa de “2666” e na cidade brasileira onde você lê esse texto agora. Não é possível esperar por um futuro menos violento enquanto houver, para cada mulher se decompondo em um terreno baldio, alguém que ri de sua morte. É com esse impacto final e essa sensação de imundície que Bolaño nos abandona em uma lanchonete, ao som das gargalhadas dos policiais, tão próximo do final dessa longa e tortuosa parte, como quem diz: pense nisso. Veja como estamos cercados por isso, por todos os lados. É difícil pensar que mesmo alguém que tenha o hábito de rir das mesmas piadas não se sentiria constrangido pelo autor após percorrer todo esse caminho e desembocar em um espelho tosco e perfeitamente real de si mesmo.
“2666” abarca muitas outras temáticas. Como disse antes, é um exemplo de leitura densa, uma leitura de vertigem, que não se encerra fácil e que esmiúça, ainda, outras formas de marginalização e de agressão. A denúncia da violência sistêmica contra a mulher é apenas uma de suas muitas cartas — e uma extremamente bem lançada, propositalmente exaustiva, que nos cansa como deveriam cansar também as repetitivas notícias de feminicídios que testemunhamos diariamente, às vezes até mesmo na TV ligada, enquanto almoçamos em família sem perder o apetite. Bolaño se demora, se prolonga, recusa-se a resumir o que quer que seja, para no final nos levar a um nocaute de realidade mais eficiente do que qualquer outro golpe rápido.