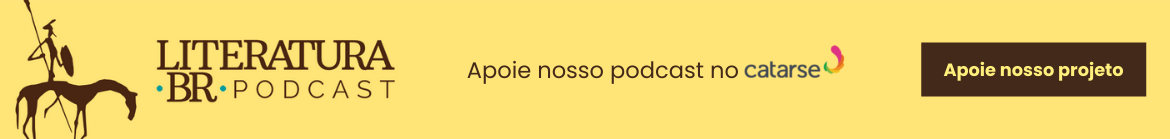UM VELHO CINEMA E SUAS LIÇÕES
Numa certa altura dos anos 80, principalmente depois que o filme “Cinema Paradiso”, de Giuseppe Tornatore (1989), se impôs, todo mundo passou a falar de velhos cinemas de suas cidades, que iam se extinguindo devido à queda de interesse pelas casas de exibição que era provocada pelos filmes em vídeo das locadoras e pela televisão. A decadência não se atenuou com o tempo, ao contrário, ficou mais cruel: tudo tornou os cinemas tradicionais do passado apenas queridos fantasmas, cuja persistência está condenada ao fluxo instável do saudosismo de cada um de nós.
O fato é que, envelhecendo, passamos a frequentar mais certos espaços e situações do passado do que viver no presente, ou este se tinge de anacronismos de tal modo que já não sabemos, caminhando em algumas partes, se estamos ali ou nalgum outro lugar muito remoto, sensações contraditórias se misturam e ficamos como que pendulando entre agoras e outroras. O grande tempo vivido nos roubou o frescor e a inocência, mas nos tornou inflados de coisas a contar, a explicar, a compartilhar, e naturalmente nos deixa mais lentos, mais reflexivos. Acabamos nos tornando até involuntariamente proustianos, dando um valor que só nós entendemos a certas fagulhas preciosas de sensações que remetem a delícias ainda mais complexas do “tempo perdido”. E não há quem, mergulhando em si, não encontre algo para evocar das alegrias dos velhos cinemas.
Meu fantasma querido é o Cine Bandeirantes, de Novo Horizonte (SP). Nasci e vivi nessa cidade até os 39 anos, e comecei a frequentar esse cinema lá pelos inícios dos anos 60, quando estava aos 10, 11 anos. Era também fanático leitor de gibis e, como outros moleques, levava-os em pilhas para trocar em frente ao Bandeirantes. Os cartazes, que eu nem entendia direito, traziam as caras de Doris Day, John Gavin, Sandra Dee, Joselito, Marisol, Sara Montiel, ídolos daqueles tempos. Confusamente, eu anotava títulos originais dos filmes, sem entender Inglês, fascinado pelas cores, pela beleza das estrelas e a intimidante masculinidade dos astros – nada parecida com as dos reles moleques imberbes e virgens que éramos.
Lembro-me que a música de abertura, quando o escuro maravilhoso se fazia e a expectativa se instalava, foi, por algum tempo, a da famosa trilha sonora de “Se meu apartamento falasse”, de Adolf Deutsch, e depois a do filme “Amores clandestinos” e ainda depois “Look for a star”, de “Circo dos horrores”. Era delicioso enxotar o condor da apresentação da Condor Filmes como se urubu fosse, em grupo, aos “xô, xô,xô”, até que o filme propriamente começasse, ou esperar que o vigoroso atleta que batia no gongo da organização Rank fizesse este soar.
Fiz ali meu aprendizado assistemático, dependendo das programações incertas e de muito lixo colorido que eu tinha em alta conta. Só muito tempo, já na juventude, depois de ter visto todas as gloriosas cafonices daqueles anos, foi que me dei conta de que o Cinema podia ser uma coisa inquietante e artística, quando, com um amigo, fui ver, no meio da semana – e acabamos sendo nós dois os únicos espectadores – um enigmático filme em preto e branco chamado “Quando duas mulheres pecam”. O filme era o “Persona”, de Bergman, que recebera essa versão infame como título no Brasil, e suas imagens me deixaram aturdido e fascinado.
Dificilmente escapamos a lembranças como essas, pelo que tiveram de seminal. Tempos atrás, fui ao principal cinema de rua sobrevivente em Poços de Caldas. Havia pouca gente na sessão, umas cinco pessoas, e tudo estava num macio e civilizadíssimo silêncio, com uma música neutra ao fundo. De repente, porém, nas paredes laterais começaram a se acender luzes de um azul-claro muito suave e, como que obedecendo a esse acender de luz após luz, uma outra música se ouviu. Achei-a de uma beleza tão calma e insinuante, de uma serenidade tão grandiosa, que fiquei possuído pela grandiosidade do momento – esse momento de expectativa de ver um filme daí a pouco, que qualquer cinéfilo tem como alguma coisa sempre sagrada, não importando os desapontamentos que terá. Eu parecia ter retornado ao passado do Bandeirantes, decididamente. Esqueci o filme, claro, mas a música ficou em minha cabeça e, consultando o rapaz que cuidava da projeção, soube que aquilo era o “intermezzo” romântico da “Cavalaria Rusticana”, de Mascagni. Não descansei enquanto não encontrei a música em CD, tempos depois. Não podia me trazer de volta as músicas preliminares do velho Bandeirantes, mas somos assim, sempre arrastados por ilusões preciosas demais do ponto de vista individual, mal e porcamente compreendidas pelos outros, que também têm as suas.
Saudosismo é coisa por vezes execrada sem que se entenda direito o que realmente é. Porque sempre usamos o filtro seletivo da memória para tempos que, fruídos pela lembrança, ficaram desprovidos de suas arestas, asperezas, dores, que de modo algum foram ideais como parecem, a julgar pela intensidade de nossos suspiros. Decididamente, o passado – porque já passou e pode ser recortado arbitrariamente por esse mecanismo seletivo – é uma ilusão deliberada, e às vezes descarada. Na pior hipótese, o saudosismo torna-se uma muleta doentia, uma petrificação reacionária que resiste estupidamente a tudo – e vê-se isso em todas as áreas. Há livros de memórias que chegam a ser repulsivos, pelas falsificações. Mas, falemos de boas saudades.
Elas não mudarão o presente enquanto trocadas em e-mails longos e afetuosos ou em mesas de bar com suas cervejas, porque estamos amadurecidos o bastante para saber que são saudades, não mais. Mas, experientes, peritos em baixar a cabeça resignadamente para certas coisas que são mesmo irremediáveis, usamos a saudade como a resistência, a persistência, a deliberação de firmar e reconfirmar uma identidade que, quanto mais vivemos, mais é aprofundada. Não é apenas o bordão cansativo de “recordar é viver novamente”. É o recordar para nos contentar com aquilo que somos e aprofundá-lo de tal modo que a verdadeira felicidade possível – a de sermos nós mesmos, e não outros, com todas nossas preciosas alucinações retrospectivas – nos inunde e justifique.