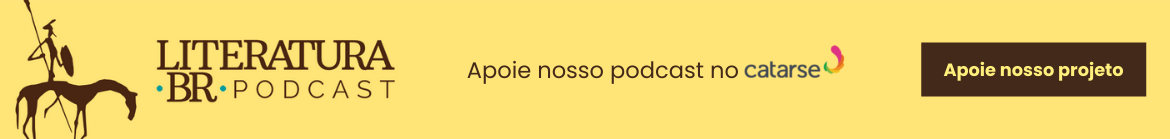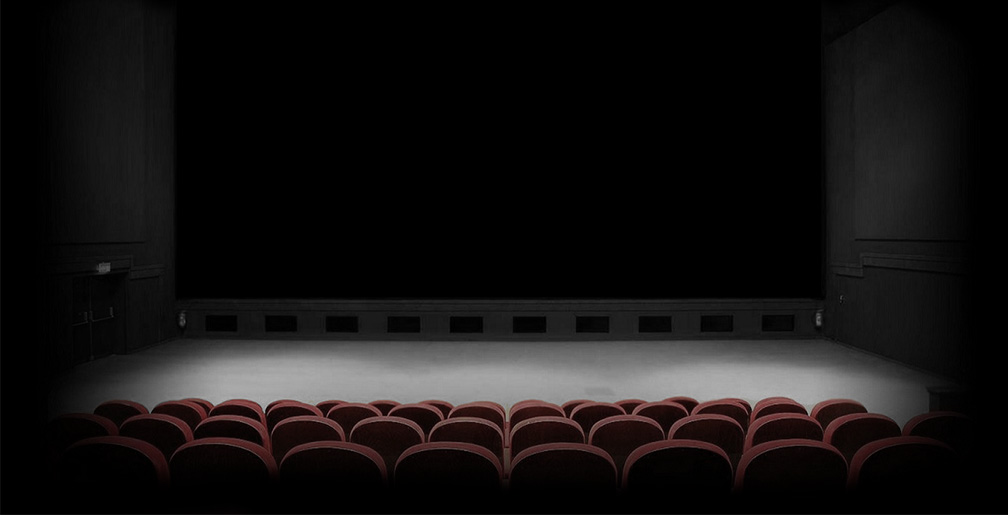
Reencontro
Desde que anunciaram na TV a estreia de mais um “Meia-noite no museu”, meu filho mais novo me enche a paciência para irmos ao cinema. Sendo época de férias, sei que as salas estarão lotadas, haverá fila para estacionar, para comprar as entradas, os lanches e mais fila esperando a hora em que se pode entrar na sala emporcalhada pelo uso na sessão anterior. Não, definitivamente, eu não me sentia atraída para ir ao cinema.
Mas sabe como é mãe culpada do século XXI? Fazemos tudo e mesmo assim parece que não fazemos nada, os avós nos culpam pelo excesso de tarefa que damos aos pequenos, pela ausência devido ao trabalho e, quando encaramos o trânsito infernal da cidade até chegar em casa, e, por isso, não voltamos felizes, também estamos errados. Então fomos. A culpa me levou.
Braços entupidos de coisas como dois imensos sacos de pipoca, dois copos de refrigerante equivalentes, os documentos numa mão, as entradas em outra, segura na mão do filho pequeno para ele não se perder na multidão e, como um polvo, acredito que não vou sobreviver sem ser presa por negligência ou surto psicótico. Começo a achar que tenho síndrome do pânico e que terei um troço antes mesmo de passar pela mocinha que recebe parte das coisas que tenho nas mãos.
Um certo alívio me passa pela cabeça quando me lembro da primeira vez que fomos ao cinema, apenas eu e meus filhos. Mal posso conter o riso quando recordo que, o mais novo se jogou no chão imundo do shopping fazendo birra porque queria carregar a pipoca e o refrigerante como fazia o mais velho, mas eu não queria deixar porque sabia que ele ia derramar. Muita coisa para sua mãozinha. Indecisa entre abandoná-lo à mercê de uma gripe suína e seguir a fila ou acudir a criança e assumir que era minha já que todo mundo olhava esperando uma atitude séria da minha parte. Abaixei e cochichei no ouvido dele que compraria todos os doces que ele quisesse quando terminasse o filme se ele levantasse naquele instante e me seguisse. Sim, o açúcar é a solução para todos os problemas do mundo. Sem titubear, ele levantou, limpou os olhos lacrimosos com as mãozinhas imundas de chão de shopping e felizes assistimos naquele dia “Toy Story 3”. Deus existe e meu filho não pegou nenhuma doença naquele dia.
Agora, já mais crescido, pode carregar a própria pipoca e caminha decidido em direção à sala 4 onde iremos assistir ao filme tão esperado por ele. O pai, ao meu lado, não ajuda muito na hora de segurar a ansiedade e todas as coisas que precisamos abarcar apenas com duas mãos. Ele sofre como eu para não perder as crianças, não derrubar as pipocas e não perder os documentos. Deus, que agonia, cadê as cadeiras do cinema?
Fui mesmo, como já disse, movida pela culpa. Quando sentei e senti que podia relaxar por quase duas horas, pensei em como a vida pode ser boa no escuro do cinema e que o criador do ar condicionado merece um abraço bem apertado. As crianças se acomodaram e começaram a contar quantos trailers passavam e sofriam porque após cada um deles o filme não começava. Que ansiedade! Por que eles não valorizam o silêncio?
Eu não tinha nem um terço da ansiedade deles, não fazia muita ideia do enredo do filme já que não era fã. E quando o filme começou, agradeci mentalmente pela calmaria que se apossou deles. Agora posso até dormir. Quem sabe?
Mas foi aí que aconteceu um encontro para o qual eu não estava preparada. Surge na tela aquele que mais mexeu com minhas emoções nos meus tempos adolescentes. Seus lindos olhos azuis, quase o mar da República Dominicana, me comoveram e eu perdi o sono e a fala. Ele era Ted Roosevelt, “captain, my captain”, Jack que não parava de envelhecer... Não, eu não estava pronta para reencontrar meu lindo Robin Williams.
Aqueles olhinhos nervosos fazendo piada, mas que os lábios finos não acompanham. As rugas ao redor desses olhos profundos, magoados e irônicos e que eu sabia que não viam mais a luz da vida. Mal me concentrei no enredo do filme, queria estar ali sozinha com ele, ouvindo suas palavras sem a interferência dos demais personagens do longa metragem.
Queria de novo vê-lo e sentir a emoção de redescobrir porque vim parar nessa profissão tão estranha que é ser professor. Sim, foi a sociedade dos poetas mortos que me fez parar aqui. Queria ver de novo o mestre se despedindo enquanto seus alunos sobem nas mesas burlando os bons modos da escola tradicionalíssima em que estudam. Queria ouvi-lo sussurrar “carpe diem” e fazer a tatuagem que tanto adio. Queria dar risada quando ele come uma gororoba horrível na casa da árvore e ela desaba pelo excesso de peso e movimento dos meninos encantados com suas bizarrices. Queria tudo de novo porque não posso ter mais. Porque ele já foi e eu perdi a hora de me despedir. Porque de novo me sinto órfã de uma referência artística. Porque nem quero imaginar a forma banal como escolheu partir. Se escolheu. Se é banal. Não quero nada e o filme acabou me deixando com uma saudade miserável.
Filho, que bom que você me arrastou para o cinema.