
Por Nathan Matos
6 de novembro de 2014
A cura, de Pedro Eiras
Freud, numa carta ao pastor Oskar Pfister (25 de Novembro de 1928), escreveu que queria proteger a psicanálise dos médicos e sacerdotes, ele que considerava o Deus monoteísta uma ilusão, assente na necessidade infantil de um pai. Desejava, por isso, e situemo-nos naquela época, entregar a análise a uma categoria de homens ainda não existente, mas aos quais deu o nome de «curas seculares da alma» que não necessitavam de ser médicos e não podiam ser sacerdotes. Em A Questão da Análise Leiga (1926), o «pai da psicanálise» afirmara-se como um defensor da prática da sua «ciência» por não-médicos, e não apenas por psiquiatras. Quanto à religião, comparava-a, em «Actos Obsessivos na Prática Religiosa» (1907), a uma neurose obsessiva. Totem e Tabu (1913) e Moisés e o Monoteísmo(1939) esclarecem-nos, por outro lado, que o psicanalista considerava a religião um «problema humano» da maior relevância.
Na verdade, Freud era um herdeiro dos pensadores das Luzes do século XVIII – e do Feuerbach de A Essência do Cristianismo –, não deixando de investigar a psicogénese das religiões. Relembre-se que, em 1910, sublinhava numa carta a Jung, então ainda seu amigo e discípulo, que a razão última da necessidade de religião seria o espinhoso «desamparo infantil» que levaria os homens a inventar «um Deus justo e uma natureza boa». As doutrinas religiosas permitiriam, pois, que o crente tomasse os seus desejos por realidades, substituindo a neurose pela ideia delirante.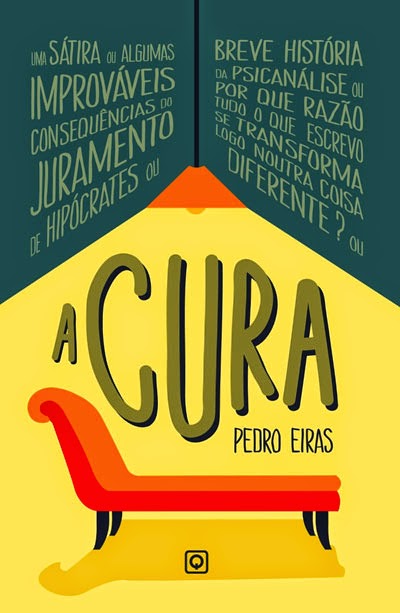
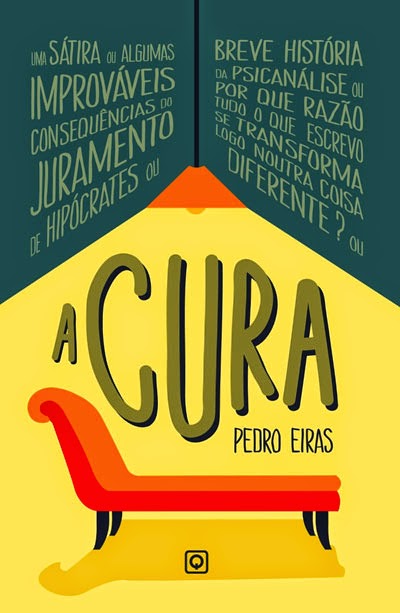
No prefácio a O Futuro de uma Ilusão (1927), Jacques André[1]encara a religião como psicótica ou neurótica, filha do complexo paternal. Muito pouca coisa a distinguiria da alucinação: a religiosidade tenderia a restaurar, sob forma alucinatória, o narcisismo ilimitado correlativo do sentimento de impotência da criança. O pai da psicanálise havia mostrado – assimilando, sobretudo no aspecto da ordem clássica, o teatro grego, bem como as lições de Shakespeare – que só o autoconhecimento concederia ao ser humano o domínio sobre si mesmo, tendo o inconsciente, nesse processo mental, uma influência determinante, entre outros aspectos, por meio da acção dos actos falhados, dos sonhos, etc.
Escavou-se muito depois de Freud, para bem ou para mal, nesta e noutras direcções. A tradição budista – na luta pela «atenção perfeita» como meio de desvendamento da consciência – e, de outro modo, o cristianismo primitivo, praticavam, no entanto, há séculos a autoanálise na senda do combate contra a ignorância e o desejo (paixão) por ela causado. Neste caso, poderíamos definir ignorância pela tentativa repetitiva de transformação do transitório em eterno/absoluto. Estaríamos não necessariamente perante uma ausência de conhecimento, mas diante de um conhecimento falso, uma autovigilância mal dirigida.
Relembre-se a mística de introversão defendida pelos escritos gnósticos, documentos revolucionários no seu empenho pela liberdade interior. Filipe considerava a ignorância escrava e a gnose liberdade. Escreve-se, por outro lado, noEvangelho de Tomé: «O reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos chegueis a conhecer a vós próprios[2], então sereis conhecidos e sabereis que vós sois os filhos do Pai vivente. Mas se não vos conhecerdes, então ficareis na pobreza e sereis a pobreza.» Algo de semelhante se anuncia, em defesa da harmonia e da elaboração espiritual e intelectual, em o Diálogo do Salvador: «A lâmpada do corpo é a mente. Enquanto o vosso interior estiver em ordem, os vossos corpos serão luminosos».
Freud havia, consumado, porém, de forma radical, a cisão entre a experiência religiosa – que identificou com uma credulidade edipiana – e a psicanálise. Somos, na verdade, de acordo com as (des)crenças de cada um, actores de um ritmo cósmico dominado pela separação: da nossa hipotética origem divina, para alguns, ou de um Outro. É por se existir enquanto ser separado que se procura a completude no reencontro simbólico com o pai e a mãe numa perenidade (ressurreição) de ordem imaginária. Eis como o pé se atreve a pousar em terrenos aparentemente opostos, pois, em ambos os casos, se deixa agir a PALAVRA, sabendo nós que os pais aparecem, segundo Deleuze e Guattari, na «superfície de registo da produção desejante» e que «a criança é um ser metafísico».[3]O inconsciente continua na realidade por explorar, do ponto de vista científico, e desconhece-se, por outro lado, quais são os mecanismos colectivos que sobre ele incidem.
O inconsciente é órfão ou tem um Deus?
Freud ou Jung? Nenhum dos dois? Ambos?
A Cura, de Pedro Eiras, dir-se-ia um romance situado nessa fronteira – fé e psicanálise – e emprega uma linguagem despretensiosa e subterraneamente erudita, veloz. Claro, inquietante, enigmático na sua tendência pensante, o enredo, de propensão acentuadamente afirmativa e não menos irónica, mesmo na polemicidade de certas sentenças, dá-nos a ver, pela mão de um ensaísta e dramaturgo argutos, a fertilidade literária que a psicanálise detém desde Freud ao colocar-nos tanto perante a dialéctica entre razão/coração, como perante o risco da criação de um Significante despótico. O discurso analítico, dito de associação livre, não é apenas intelectual, mas implicitamente afectivo. E não deixa de ser ilusório, mas de uma forma epistemológica, terapêutica, porque permite o suporte de uma viagem, a da vida.
A narrativa centra-se num fulcro de personagens principais: o narrador, psicanalista, a companheira deste, e alguém que se faz analisar pelo primeiro. Essa figura – pasme-se a ousada inverosimilhança – é o Papa. Oscilamos, neste romance, entre verdade e incerteza, pergunta e não resposta, divã e confessionário, sabendo que só a angústia e a escuta os ligam. A improbabilidade irreverente da história conduz-nos a um labirinto de interrogações perante o absurdo e a eventualidade de qualquer dos terrenos, religioso ou psicanalítico, ser totalitário. Na demanda de uma escuta (seja no divã, seja na confissão) e da procura reconstrutiva de um Eu fragmentado, ainda que parcialmente ficcional, o analisando não pede absolvição, ou se a pede, não lhe é dada, mesmo que o seu terapeuta se considere todo-poderoso. Não é disso que se trata, mas de deixar actuar a palavra verdadeira (quem sabe ilusória), individual e transindividual.
A psicanálise, por meio da representação das palavras, das coisas ou dos afectos, faz recuar o analisando a um lugar esquecido ou recalcado, obrigando-o a um caminho de lucidez e inteligibilidade. Não é uma ciência, nem uma técnica, mas usa os seus instrumentos, dir-se-ia uma experiência de amor ou, ironizando, algo parecido com a limpeza de uma chaminé, chimney sweeping, citando o terrível performer Lacan. Nesse enlace de subjectividades, que exige uma ética entre psicanalista e analisando, decorre A Cura, narrativa na qual desejo e sonho são personagens. Pelo romance passam também a pulsão de morte (que sustém o desejo de agredir, de fazer mal ou «me fazer mal») ou, nas representações psíquicas, a sexualidade recalcada (a infantil, por exemplo, em diálogo com a coisa narcísica e o desejo de extinção da líbido). Nesses domínios, também no da perversão, a arte e a literatura antecederam em muito a psicanálise.
Pedro Eiras trabalha, ainda do ponto de vista satírico, o sonho ou a sua interpretação, quase indiscreta, no diálogo entre psicanalista e analisando (o Papa) de uma forma lúdica, mostrando-nos que sonhar não é o resultado da continuidade claramente lógica ou emocional dos acontecimentos da vida, mas o resíduo de uma curiosa actividade psíquica exercida durante o sono. Ou será o sonho arquetipal (oriundo da ideia de imago), como defendeu Jung, forma de representação simbólica partilhada com a arte e a mística? A Cura faz-nos reflectir sobre a possibilidade de uma continuidade para trás, na direcção de um passado reelaborado pelo sujeito desejante numa demanda de análise. O sujeito do inconsciente descobre no divã, em diálogo com um outro, o que subsiste de ilusório na relação narcísica a partir da qual se trabalha a perda, a melancolia, o desejo. A narrativa decorre, desse ponto de vista, de modo frenético, assumindo o psicanalista um papel dogmático e mascarado em relação ao seu próprio Eu, nomeadamente na relação amorosa com a mergulhadora Rita, imersa num mar melancólico que se transforma em visão.
O relato, recheado de matéria religiosa e psicanalítica, não alheio também a um certo sado-masoquismo, contém vários graus que vão de uma agressividade entre analista e analisando, à admiração, à dúvida, à contradição, à dissimulação e à dependência. Trata-se de encontrar na sombra a luz, a coisa especular, ou melhor, uma «dramaturgia invisível», como lhe chamou Julia Kristeva, que poderíamos considerar um motor mobilizador da inteligência-corpo de dois neuróticos, neste caso com a problemática de Deus latente. Ambos os mundos são abrangidos, um deles, o do terapeuta, de forma necessariamente recolhida e, a maior parte das vezes, oculta, algo que não sucede em A Cura, estratagema decerto usado para salvação da narrativa. Nesta relação transferencial acontece o que a escritora e psicanalista reclama de «excesso aparente da palavra amorosa», de «efusão sentimental histérica» ou de «angústia catastrófica e fóbica do abandono».[4]Dir-se-ia ia, no entanto, a desordenação angustiada de uma carência de amor de um sujeito in progress, mesmo disfarçada, que conduz à demanda de análise. Pela mão da palavra interpretativa passam ligações intersubjectivas, inscrições arcaicas de um pré-sujeito, fantasmas, fantasias, que, pelo despertar da imaginação, destapam monstros e os esclarecem.
Em A Cura, a interpretação é personagem principal. Trata-se de regressar ao que esquecemos, como se afirma no romance, e de conduzir o que seremos. Curiosamente, o Papa resiste a deitar-se no divã e ambas as personagens parecem detentoras da verdade absoluta, entre outros assuntos, no que se refere ao erotismo, à sexualidade, à fé. A fala torrencial do terapeuta ajuda à dramaturgia (ou não fosse Pedro Eiras um autor de teatro), retirando-lhe, todavia, alguma verossimilhança, bem como a crueza do silêncio presente em qualquer análise. Jamais um psicanalista falaria tanto – ou então seria um mau psicanalista –, nem sentenciaria os dotes do seu saber, algo a ler como provocação irónica deliberada: «A psicanálise diz mesmo…», «a psicanálise ensina…», etc. O Papa não é, por outro lado, um ser assexuado. A transcendência pode ser parte integrante da personalidade de um analisando convicto (não por acaso o Apocalipse é citado várias vezes em sinal de revelação), como o erotismo existe nos mais belos textos da tradição mística, do Cântico dos Cânticos a Santa Teresa D’Ávila, bem como na escrita barroca a lo divino de que o teatro e a poesia de Soror Maria do Céu são um exemplo notável.
É a questão da hipotética conciliação entre fé e psicanálise, entre literatura e psicanálise, a conduzir a acção. O interdito funciona, por outro lado, como nó do problema do enredo: deseja-se a idealidade (da paixão), a paz desviada, mas o processo de autoconhecimento tem obstáculos, brechas que vêm ao de cima no enredo. O fluxo caótico da consciência dá-se bem com a ilusão, tanto no papel como no divã, sendo a melancolia uma mola de arranque para uma narrativa mental constituída no processo analítico como uma escrita, o que não significa que estejamos perante literatura.
Um escritor pode ser ou ter sido um analisando, mas jamais a escrita se define como uma forma completa[5]de psicanálise, único método a reivindicar o inconsciente e a sexualidade como os dois únicos universos da subjectividade humana. A literatura não pode ser considerada um método psicoterapêutico, embora surja, por vezes, de um processo catártico (purga ou descarga emocional): funciona sem o elemento dialógico e o lugar transferencial, sem a análise didáctica. O autor não vive dentro de uma «clínica de escuta» de supressão de resistências, nem é necessariamente um neurótico. Escreve só, sem a desmontagem possível num divã e sem Édipo como um Deus.
Nem a neurose nem a psicose são, por outro lado, meramente explicáveis por um Édipo – a psiquiatria e a neurologia evoluíram para fora do território «papá-mamã», que possui também os riscos de um totalitarismo da influência. O esquizo, como afirmam Deleuze e Guattari, faz a viagem da intensidade e em intensidade. Escrevem: «Esses homens são como Zaratustra: atravessaram sofrimentos inacreditáveis, vertigens e doenças. Têm os seus espectros e têm de reinventar todos os gestos».[6]
São domínios que parecem quase indistintos na teoria de Julia Kristeva, os da literatura/filosofia e da psicanálise, mas não o são, neste romance também não, embora a ensaísta afirme que a «verdade analítica» está mais próxima da ficção narrativa do que do discurso da fé.[7]O processo de escrita, que lida também com a perda, a separação, o limite, a fronteira entre Eu e o Outro, tem necessidade de abrir espaços até para se contradizer, como este livro o demonstra: é essa a sua liberdade, vivacidade e violência. A literatura transfigura, a psicanálise elabora, transforma. Na impossibilidade de preenchimento dos vazios e enquanto fundador de narrativas simbólico-imagéticas, o escritor dir-se-ia um excelente exemplo da recriação de um Eu sublimado, o que não deixa de ter conotações fáusticas, mas não pode ser entendido – mesmo sendo um erudito na matéria – como um sujeito em ou de análise. Na literatura, usa-se a metáfora; na psicanálise a metáfora desmonta-se, até porque amiúde o sofrimento se prende ao corpo que somatiza. Podem, contudo, completar-se, libertando o que é da arte de sempre por meio da experimentação desejante na estranheza de um Eu arcaico.
Jamais a psicanálise pode ser considerada uma mera aventura intelectual e, se por aí passa (como acontece nesta narrativa em certos momentos), é para a desfazer, já que as desordens da imaginação – que combinam sistemas de representação transversais da linguagem – vão transformar-se, no caso de estarmos perante um transfert positivo, num discurso em acto. Não se trata de uma ciência, a psicanálise, mas de um saber, que usa as regras clássicas da epistemologia científica e a que não faltam técnicas terapêuticas. Não há cura, mas emergência de um sujeito de interpretação a partir da indagação no território do desejo mediado por um analista.
A psicanálise constitui, na verdade (com a linguística e a sociologia), e na sequência da separação feita em relação a um vasto continente teológico operado depois de Descartes, uma aproximação racional ao comportamento humano e às significações enigmáticas e contraditórias que lhe são próprias. Freud arredou-a da psiquiatria porque ela engloba um domínio que pode ser considerado «irracional» ou arriscar-se a dar o salto para o «sobrenatural», se evocarmos os estudos de Jung. Cristo é, na opinião do autor de Psicologia e Alquimia, o símbolo do Eu ou vice-versa, ilustra o arquétipo do Eu. Transfert e contra-transfert estabelecem-se, portanto, neste caso, no âmbito da palavra mais do que partilhada, transmutada.
A Cura passa por aí, pelo diálogo entre o Papa e o psicanalista, ficando o leitor situado não apenas no esquematismo da vulgata analítica: complexo de Édipo, pulsão de morte, líbido, etc... Atravessa-se para o lado de lá – transcendência e literatura. Freud assinalou que esta ultrapassou, tantas vezes, a psicanálise ao tocar aquilo que Blanchot chamou de interdito impronunciável. Pedro Eiras envolve-se na tarefa árdua de tentar entender qual a relação entre a linguagem e o mundo: segue o caminho da imaginação. Imaginar é trazer a nós as coisas na sua ausência, tarefa do romancista. A imaginação poderia definir-se como uma coisa mágica que faz aparecer o que não está lá, tentando roubar a luz ao escuro, sublimando. E sublimar vem de sublime – o que demonstra a inatingível beleza e perfeição que ultrapassam o humano: dir-se-ia um mecanismo de defesa pelo qual a energia psíquica negativa se move num sentido da menor dor.
Se formos na linha da nossa angústia, desse humor do Outono e da Terra, mórbido e paralisante, dessa «felicidade de se estar triste», como escreveu Victor Hugo, lentificamos a nossa acção, mas se usarmos a FORÇA, alterando, de algum modo, os dados da nossa experiência temporal, indo contra o fluxo escuro, dá-se a sublimação. Nesse quadro, a escrita nasce, tantas vezes após um longo processo analítico como uma verdade dinâmica que põe em contacto a história de um transfert permanente entre o domínio da patologia e o do espírito. É isso que o psicanalista deste livro, que surpreendentemente se torna monge, tentará fazer – uma autobiografia, um «exercício espiritual libertador».[8] Não por acaso o Papa-analisando, diz : «O Senhor Doutor considera que eu tenho uma neurose. Eu considero que tenho temor a Deus. Para que havia eu de curar aquilo que me alimenta?»[9]
A frase poderia ter sido escrita – em território outro – por Foucault que considerou a neurose constitutiva. Na verdade, a intensidade do relacionamento do ser humano consigo próprio, enquanto objecto de conhecimento e de criação artística e literária, foi-se tornando numa forma de construção motivada pela sua quase impossível superação. O analisando é sempre aquele que não sabe o bastante, alguém que balança na corda da impermanência e duvida, algo que o Papa, neste romance, parece, em certos momentos, recusar. Inusitadamente, há como uma inversão dos papéis. Ambas as personagens despertam para um autoconhecimento, mas digamos que o Papa se detém perante uma impossibilidade, a de não poder prosseguir a análise por estar convicto da sua fé, suspendendo o seu processo reelaborativo enquanto ser de linguagem. Talvez lhe bastasse o silêncio interior e a inserção num edifício religioso, a Igreja.
O Papa não é apenas um homem de fé, mas de religião. Decide, por isso, neurótico ou não, abandonar a análise, mas não sem ir em busca da ovelha extraviada que acaba por vestir o hábito de monge. O psicanalista, que se encontrava encerrado na sua torre intelectual e discursória, dá uma volta de 180 graus, tomando o Papa como um pai simbólico e encaminhando-se para outra «verdade». O fecho do romance determinaria, na visão de Freud, a vitória da alienação, já que este considerava haver uma similitude entre fé e obsessão neurótica, religião e neurose colectiva. Para a Igreja, seria o triunfo da fé. Essa dubiedade permite-a a literatura.
O inconsciente tem razões que a razão desconhece…
por Ana Marques Gastão
Lisboa, Quidnovi, 2013
[1]Sigmund Freud, L’Avenir d’une illusion, PUF, 2004.
[2] Sublinhado meu.
[3] Gilles Deleuze e Félix Guattari, O Anti-Édipo – Capitalismo e Esquizofrenia 1, Lisboa, Assírio & Alvim, trad. de Joana Morais Varela e Manuel Maria Carrilho, 2004, p. 50-1.
[4] Julia Kristeva, Au commencement était l’amour – psychanalyse et foi, suivi de «À propos de l’athéisme de Sartre», Paris, Hachette, 1985, p. 13.
[5] Sublinhado meu.
[6] Gilles Deleuze e Félix Guattari, ibid., p. 136.
[7]Julia Kristeva, ibid., p. 35.
[8] Pedro Eiras, A Cura, Lisboa, Quidnovi, 2013, p. 227.
[9] Idem, ibid., p. 203.



