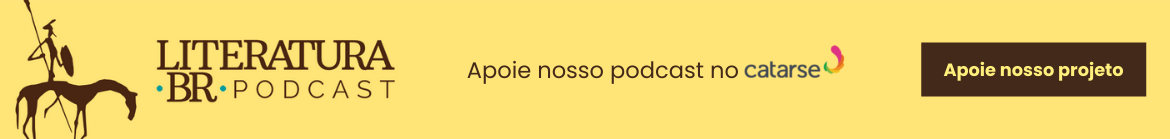Por LiteraturaBr
3 de fevereiro de 2014
Um toque de pecado: além da violência e da moral
Coberta de orvalho
a aldeia faz-me lembrar
um cemitério
Ryuta IIda (1920)
Tomate no asfalto. Um crime prenuncia outro crime. De quem é a culpa? Na velha e nova China de Mao, parece imperar a lei do Oeste: progresso e corrupção. Sob o imperativo da ordem, forja-se um crescimento desigual que em nada difere do mundo ocidental capitalista. Há luto e castigo. A verdade, em maior ou menor grau, não vem das notícias de jornal ou da Internet; antes, ela vem da arte, em toda sua pujante ancestralidade.
Assim é Um toque de pecado (China, 2013), do diretor Jia Zhang-Ke, vencedor do prêmio de melhor roteiro em Cannes, 2013. No filme, homens e mulheres comuns são levados a tomar atitudes extremas (salvo o primeiro personagem que abre a história e reaparece na segunda narrativa), motivados pelo senso de justiça. Valendo-se de uma técnica já conhecida na Antiguidade como estrutura em anel, as histórias se conectam por temas comuns, ainda que lhes sejam dados tratamentos distintos. A primeira e a última, por exemplo, trazem cenas de reconhecimento de seus protagonistas pela via do espetáculo cênico.
A composição, em cada história, lembra o teatro kabuki[1], dada a maquiagem carregada e os atos dançados, cantados e narrados. Nas duas situações, os atores do espetáculo tradicional representam na vila onde vivem os operários de uma mina. A fala deles expressa exatamente o que, naquele momento, aqueles personagens da primeira e da última história precisam ouvir.
Em uma das representações, o ator diz: “O juiz pode mudar de opinião, mas você sabe de quem é a culpa.” A personagem em questão assiste a um julgamento fictício e está fugindo (ou pensa estar) de um passado que a condena: o primeiro crime foi relacionar-se com um homem casado durante anos, a certa altura ele propõe que ambos vivam juntos e a convida para seguir com ele para outra cidade. Na sala de embarque, é detectado um objeto suspeito na bagagem dele: um canivete, segundo ele, para cortar frutas. Ela decide ficar e pede o canivete, para que ele embarque sem mais problemas.
Depois de levar uma surra da esposa, que descobre seu envolvimento com o marido, vai tentar vida nova junto da mãe em outro povoado, onde vê a notícia de que o trem no qual deixou de embarcar sofreu um grave acidente, deixando vários mortos, entre eles, possivelmente, seu amante. De volta ao antigo emprego, comete o segundo crime: matar um cliente no local de trabalho, após ser insistentemente humilhada e ofendida. A cena evoca clássicos do cinema chinês, tanto pelos movimentos de câmera, quanto pelo já demonstrado derramamento de sangue. No hotel de pernoite, que é também casa de massagem e sauna, onde ela trabalha, todos têm um preço, e quem se recusa está sujeito a pagar um valor ainda mais alto. Ela se dispõe. Valendo-se do canivete que livrou sua vida de um acidente fatal, desfere os golpes que levam à morte o homem que a ofendeu com a cor do dinheiro. Mas é outra a cor que ela traz nas mãos...
Para além do sangue que por vezes espirra da tela, há beleza e notas de delicadeza em cada uma das quatro histórias. Em outra referência clássica, além do papel de parede da abertura, que reproduz uma pintura tradicional chinesa (séc. XVII/XVIII, circa), o simbolismo animal é uma constante e delineia algumas sequências: um cavalo é fustigado até cair, mas será, aos olhos de um espectador catártico, devidamente vingado; o tigre da manta encobre o rifle do homem que fará justiça com as próprias mãos; o touro repousa no gorro do assaltante que se entedia na própria vila e sente prazer em atirar; os bois e búfalos que seguem para o abate numa carroceria e outros que pastam na estrada com seu olhar lânguido e sem pressa; os peixes-palhaço, guardados num saco com água, são devolvidos para o rio ou represa; a serpente que cruza o caminho da mulher que mata com arma branca, antes acolhida por uma linda jovem guardiã de serpentes. Só o jovem que devolve para as águas os peixes aprisionados, ao lado da namorada e colega de trabalho, mãe de uma filha pequena, atenta contra a própria vida. Não disposto a arcar com o “mal” praticado a outro colega de trabalho em emprego anterior – o jovem teve o dedo cortado por distração durante o expediente, sendo aquele apontado como o responsável – vai tentar a sorte em outras vilas, conhecendo a fachada de figurões chineses e estrangeiros que vão buscar prazer ao lado de belas e jovens acompanhantes, entre elas a jovem que guardava os peixes e se apresenta budista. Ele acaba voltando para o trabalho massivo e massificante em outra fábrica, até ser ameaçado por aquele a quem, por acidente, causou um sofrimento e, por fraqueza, acabou reagindo contra si mesmo. Num ato supremo de negação, renuncia a própria vida, pondo fim ao sofrimento e ao sofredor.
Só há sofrimento, não
há sofredor.
Não há agente, só há
o ato.
O Nirvana é, mas não
Aquele ou aquela que o
procura.
O caminho existe, mas
não aquele ou aquela que
nele anda.
(Visuddhi Magga, 16)
Tanta beleza e tanto horror. Séculos de uma rica tradição gravada na arte mural, marcial, na porcelana, na argila, na música, na poesia, na xilogravura, na medicina, na religião, na filosofia. No entanto, com Nietzsche podemos dizer: “Quanto sangue e quanto horror há no fundo de todas as ‘coisas boas’!...” (2009:47). O que parece bom para alguns, sob um custo, muitas vezes, inestimável, provoca o mal-estar e a desconfiança de outros. Reclama-se a palavra empenhada, promessas não cumpridas, sonhos desfeitos. Exige-se reparação. A tensão máxima dessas forças é traduzida na primeira narrativa, a do minerador furioso que se revolta contra a corrupção dos líderes do seu povoado. Ele só queria justiça. Em nome dela foi espancado e dispensado do emprego. Antes, tentara pelas vias legais, propusera o diálogo, mas acabou se tornando uma pedra no sapato. Ameaçado, teve de engolir a seco sua reclamação. Quiseram comprar seu silêncio. Um dia não pôde mais, até explodir num banho de sangue anunciado nas primeiras cenas do filme: uma carga de tomates maduros espalhada no asfalto. O gigante tombou; em sua queda, maximizou-se a violência, sob as mais distintas formas, como retrata o diretor chinês.
Encerrando esta breve reflexão que não se pretende (e está longe de sê-lo) uma crítica cinematográfica, retomamos a questão inicial aqui levantada: de quem é a culpa? A resposta, mais uma vez, é sinalizada por Nietzsche. Ele alude, em Genealogia da moral: uma polêmica[2], à mais antiga e primordial relação pessoal para explicar a origem do sentimento de culpa, da obrigação pessoal: a relação entre comprador e vendedor, credor e devedor. Segundo ele, é possível situar aí “o primeiro impulso do orgulho humano” e a suposta primazia perante os outros animais. Por isso funciona, e bem, o totemismo no filme aqui comentado. No parágrafo 8 da já referida Segunda Dissertação, o filósofo acrescenta:
O homem [Mensch, em alemão] designava-se como “ser que mede valores, valora e mede, como o “animal avaliador”. Comprar e vender, juntamente com seu aparato tecnológico, são mais velhos inclusive do que os começos de qualquer forma de organização social ou aliança: foi apenas a partir da forma mais rudimentar de direito pessoal que o germinante sentimento de troca, contrato, débito [Schuld], direito, obrigação, compensação, foi transposto para os mais toscos e incipientes complexos sociais ( em sua relação com complexos semelhantes), simultaneamente ao hábito de comprar, medir, calcular um poder e outro. O olho estava posicionado nessa perspectiva, e com a rude coerência peculiar ao pensamento da mais antiga humanidade, pensamento difícil de mover-se, mas inexorável no caminho escolhido, logo se chegou à grande generalização: “cada coisa tem seu preço; tudo pode ser pago” – o mais velho e ingênuo cânon moral da justiça, o começo de toda “bondade”, toda “equidade”, toda “boa vontade”, toda “objetividade” que existe na terra. Nesse primeiro estágio, justiça é a boa vontade, entre homens de poder aproximadamente igual, de acomodar-se entre si, de “entender-se” mediante um compromisso – e, com relação aos de menor poder, forçá-los a um compromisso entre si. (2009:54-55)
É o que nos parece fazer cada um dos quatro personagens de quatro províncias da China contemporânea. Cada um, a sua maneira, assume um caráter, e um totem, escrevendo, de um jeito diverso, o próprio destino.
[1] Gênero japonês do século XVII
[2] NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral: uma polêmica. Tradução, notas e posfácio Paulo César de Souza. – São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
por Luciana Sousa