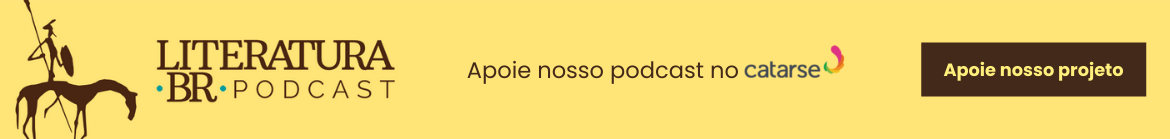Sobre ossadas e ironias (ou As boas perguntas que a literatura faz)

Trata-se de escrita construída sob a marca da ironia potente e da lucidez leitora (características já reconhecidas do autor, assente-se aqui). Não é qualquer romancista que, à propósito de narrar uma estória, nos leve a perceber (tendo sempre ao fundo seu riso irônico e desafiador) os alinhavos da escrita de outra história: a história de Angola.
Ou, melhor dizendo: a história de Angola lida a partir dos registros deixados pelo colonizador português. Mas numa leitura (redigo) regida pelo poderoso gesto irônico e questionador de tomar registros documentais do passado e os reler provocativamente, desse modo lançando novas possibilidades interpretativas sobre esses registros históricos.
Não é à toa nem inocentemente que se toma tão vultosas e históricas ossadas de um passado (sobretudo quando imperial/colonial, pertencentes ao panteão de uma nação que “deu mundos ao mundo”) para tirar-lhes a canônica relevância de que historicamente se revestiram e lhes propor outras relevâncias, para narrar outras histórias (menos grandiloquentes, menos maiúsculas). Não é à toa nem inocentemente que se principia uma narrativa desta ordem (já em sua primeira linha e com todas as letras) a dizer que um certo senhor, que teve vida no século XVII, nobre e conquistador, um vulto da história, “é um filho da puta” (PEPETELA, 2011, p. 7).
O dito homem chama-se Manuel Cerveira Pereira, um administrador colonial português que exerceu o cargo de Capitão-General na Capitania-Geral do Reino de Angola (entre 1603 e 1606; e entre 1615 e 1617).
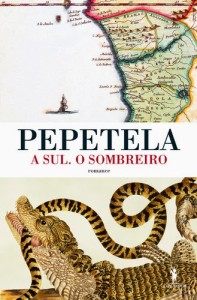
Mas não é este vulto da história o centro da narrativa empreendida por Pepetela. A sul. O sombreiro narra (por meio de muitas vozes narrativas) os percalços da busca pela conquista de Benguela (terra mais a sul de Luanda, com sua baía em forma de sombreiro mexicano) por Cerveira Pereira, é certo; mas conta mais, bem mais. Conta de um tempo em que Portugal encontrava-se sob domínio espanhol; também das conspirações e intrigas entre governantes e ordens religiosas (sobretudo franciscanos e jesuítas); conta ainda sobre os temíveis guerreiros jagas, tidos por canibais; conta, sobretudo, a saga do mestiço Carlos Rocha, que em sua busca por um lugar seu segue sempre a sul, sendo essa sua busca (pelo sul) a costurar todas as estórias que se contam.
Nesse romance, como se disse, temos uma multiplicação de vozes e, com ela e por ela, temos já aí uma exploração das possibilidades de verdade que os registros do passado permitem. São diversas as vozes narradoras de que faz uso Pepetela: o sacerdote Simão de Oliveira, o governador-geral Manuel Cerveira Pereira, o mestiço Carlos Rocha, Margarida Sottomayor (filha do ouvidor André Velho Sottomayor), o narrador propriamente dito (assim digamos), além do próprio autor, podemos dizer, que faz questão de se colocar, de modo contundente, no texto: “aproveito assim a ocasião para meter solenemente minha farpa afiada [...]” (PEPETELA, 2011, p. 15); “aproveitando a deixa, adianto a dizer que [...]” (Ibid., p. 29); “aviso desinteressado aos leitores: inútil procurar os nomes num mapa [...]” (Ibid., p. 41). Segundo o historiador Diogo Ramada Curto em texto sobre A sul. O sombreiro, no qual destaca essa “multiplicação das vozes”, esse ato escriturístico de Pepetela provoca um descentramento do discurso colonial “como se a memória do passado colonial não tivesse um centro” (CURTO, 2013, p. 206).
Algo de fundamental importância em se tratando de um espaço como Angola, que esteve longo tempo sob domínio colonial, pois, como sabemos, pelo menos desde as postulações dos estudiosos da(s) chamada(s) teroria(s) pós-colonial(ais),
“O império produz textos (relações administrativas, tratados geográficos, estudos linguísticos e etnográficos, leis, decretos, livros de viagens, ficções) e, por sua vez, tais textos podem ser considerados como veículos da autoridade imperial, ou como suportes de inscrição de autoridade.” (VEGA, 2003, p. 15. Tradução nossa")”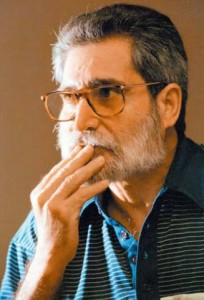
Textos afiançadores de verdades, em suma se pode dizer. Verdades com as quais se escreveu a história das partes do mundo que estiveram sob o julgo imperial, o mais das vezes como mero apêndice dessas histórias imperiais (as ditas “histórias ultramarinas”).
São essas histórias e suas verdades canônicas que as literaturas pós-coloniais africanas, já há tempos (pelo menos desde a década de 1960), vêm pondo em questão. Independentes do julgo colonial na segunda metade do século XX, as jovens nações africanas, por meio de seus intelectuais, entre os quais não se furtaram os literatos, tomaram a si a tarefa (ética, estética) de reler as escritas (literárias, históricas, etnográficas, missionárias, etc.) que disseram o que África era. Havia uma urgência em falar por própria voz, uma luta a ser travada pelo “direito humano à narração” (BHABHA, 2007, p. 25).
As literaturas africanas fizeram (fazem) parte dessa procura de si. Como enfatizam seus pesquisadores, em seu processo formativo elas foram-se constituindo como um modo de contestação de uma ordem (política, social, cultural) estabelecida: a ordem colonial. Não admira, pois, a tenuidade existente entre arte e militância em seu desenvolvimento, sendo esta uma das “mais marcantes características” da literatura produzida em África no século XX, como destaca Ali A. Mazrui no capítulo dedicado à literatura na História Geral da África (volume VIII), obra de referência nos estudos sobre o continente, enfatizando ainda a “justa medida dos laços internos [da literatura] com a história geral da África” (MAZRUI, 2010, p. 664).
Laços que, nas literaturas africanas mais contemporâneas, se destacam justamente pelo gesto irônico de desreverenciar as verdades postuladas pelas escritas do passado. Não por meio de uma simples negação reducionista, mas pela estratégia de explorar as “brechas” (as ambiguidades, os mal-entendidos, as incompreensões culturais) que a documentação histórica deixa ler. O desreverenciar das verdades se dá, nessa perspectiva (metaforicamente falando), pela dissecação de suas vísceras, pela exumação de suas ossadas operada pelo (irônico) gesto escriturístico do romancista, pela “introdução de critérios diversos de relevância”, como propõe María José Vega:
“Se se pode falar, pois, de uma teoria ou uma crítica poscolonial, não é, a meu ver, por oposição à teoria literária ‘tradicional’ ou ‘europeia’ ou ‘metropolitana’, mas pela renovação de interesses, pelo deslocamento do ponto de vista do observador, ou pela introdução de critérios diversos de relevância.” (VEGA, 2003, p. 14. Tradução nossa.)”
Quem dá relevância ao quê? Eis a questão, eis a indagação que sobressai da leitura de A sul. O sombreiro. Nessa obra, há um perguntar-se, epistemologicamente desafiador, acerca da construção dos fatos históricos, sobre “quem os elege para integrá-los na história?” (GUNHA, 2002, p. 17. Tradução nossa). Há um colocar em evidência “a maneira como fabricamos ‘fatos’ históricos a partir de ‘acontecimentos’ brutos do passado” (HUTCHEON, 1991, p. 12-13), desse modo expondo, aos olhos leitores, a constatação, epistemologicamente instigante, de que “os fatos não são preexistentes, e sim construídos pelos tipos de perguntas que fazemos aos acontecimentos” (Ibid., p. 162). Uma escrita que é ciente das “conseqüências epistemológicas e ontológicas do ato de tornar problemático aquilo que antes era aceito pela historiografia – e pela literatura – como uma certeza.” (Ibid., p. 14).
Outra estratégia que encontramos nesse romance para a lida com a documentação histórica é o desreverenciar da pomposidade que nela se lê. Em A sul. O sombreiro Pepetela reitera um chamar de atenção ao leitor para o nomear das coisas, muitas vezes demasiado para a realidade que nomeiam:
“a chamada fortaleza era na verdade um muro de taipa mal amanhado em cima do morro” (PEPETELA, 2011, p. 169);
“Isto, um cercado de espinheiras no meio de pântanos ao lado da praia, é uma cidade? Pois chamam S. Filipe de Benguela à povoação imunda.” (Ibid., p. 302)
“tudo nomes demasiados pomposos [fortaleza, cidade, reino, etc.] para a mirrada realidade existente.” (Ibid., p. 302).
Como se lê, Pepetela deslegitima a grandiosidade que o “documento” dá às coisas do passado, repondo-as a uma realidade menos grandiloquente; escalpela a sacralidade que por vezes (muitas vezes) os registros históricos são lidos. Em sua faina criadora, despe a fina flor da pomposidade da letra lusitana dos textos para os mostrar por outras miradas. Senão vejamos:
“Manuel Cerveira Pereira resolveu desembarcar [na Baía da Torre, Baía das Vacas ou de Santo António] e fundar a cidade, para ser a capital do que ele tinha pomposamente chamado o ‘Reino de Benguela’. São suas as entusiásticas palavras para o rei, justificando a escolha do sítio ‘por não achar melhor porto, terra de mais salutíferos ares, fértil e abundante do mantimento da terra, como na abundância de muito e diverso peixe que há nesta baía, estando vizinho de dois rios que correm de excelente água.’” (PEPETELA, 2011, p. 227)
As palavras em destaque são de carta de Manuel Cerveira Pereira ao rei Filipe II de Espanha, de 06 de março de 1618, vorada por Pepetela do sexto volume da obra Monumenta Missionária Africana, cuja sua leitura logo a seguir ele nos participa, mostrando-nos o escalpelo de seu ato leitor:
“O espantoso nesta carta e em muitos outros relatórios de igual proveniência é o fato de o Cerveira sempre referir o clima como argumento decisivo na escolha [...]. O governador chegou em maio de 1617, tendo desembarcado no mesmo 17, altura do ano mais fresca e sem chuva, mas com aqueles restos de humidade que fazem o capim estar ainda verdinho, dando a ideia, com muito boa vontade, de prados da Europa. Compreende-se o erro. Mas designar ares salutíferos os respirados no meio de pântanos já é mais difícil de aceitar. E que os dois rios, Cavaco ou Maribombo e Corinje, corram com excelente água é a mais deslavada das mentiras, pois só tem água nos últimos séculos (e os arqueólogos geológicos poderiam apontar para milénios, para tanto não me arriscando eu) durante três ou quatro dias por ano, numa enxurrada de água barrenta depressa absorvida pela secura dos leitos. Quase sempre, para beber é preciso cavar cacimbas e rezar. Terá sido assim desde os primeiros vestígios, não havendo razão para alterações, pois se desconhece a existência de falhas geológicas, vulcões, furacões ou outros fenómenos modificando bruscamente o clima ou roubando a água de rios.” (PEPETELA, 2011, p. 227)
Nas mais de trezentas páginas do romance, esse ato herético, desreverenciador, é reiterado. Mais documentação histórica é vorada, mais a imaginação-escalpelo do autor nos faz ver o quão necessário se faz desreverenciar o passado, desnudar a sacralidade das linhas (sobretudo linhas de uma escrita conquistadora) que, no caso de uma terra como Angola, disseram o que ela era “autenticamente”.
O poder de dizer o que o outro é: eis outro questionamento que nos salta das páginas de A sul. O sombreiro. Para Pepetela, parte dessa problemática deve-se à “péssima audição dos portugueses para as nossas línguas” (PEPETELA, 2011, p. 41), daí a problemática na nomeação dos lugares e das gentes. Aos jagas, por exemplo, chamaram “yakas ou imbangala ou benguelas ou... ou...” (Ibid., p. 38).
E aliada à “péssima audição” lusitana, temos um fator ainda mais considerável: a incompreensão cultural ante o encontro com “o outro”. Algo que para o historiador indiano Partha Chatterjee constitui-se num marco na relação entre a Europa e seus “outros” nesses últimos cinco séculos. E, para Chatterjee, “a questão ainda está em aberto”. Ela ainda modela e talvez distorça “até mesmo o entendimento supostamente científico” desses “outros” (caso da sua Índia, mas não só) “nas disciplinas modernas do conhecimento social”, incluindo-se a história (CHATTERJEE, 2004, p. 20).
A esse tocante, em A sul. O sombreiro, Pepetela, vez mais, é irônico: “sejamos condescendentes com os modos e hábitos dos europeus, para não parecermos copiar a falta de compreensão e mesmo desprezo que sempre mostraram pelos nossos costumes.” Diz isso a respeito da incompreensão dos portugueses em relação ao modo de herdar dos “selvagens”: “O próprio governador se dizia chocado, quando conversava entre amigos, pela nossa falta de educação, pois aqui o filho nunca herda do pai mas sim do irmão mais velho da mãe. E refilava, bando de selvagens, consideram mais próximo o tio que o pai.” Logo adiante, Pepetela esclarece a razão da lógica “selvagem”: “[...] o sobrinho é de certeza do mesmo sangue do tio materno, enquanto o filho provém obviamente da mãe, mas qual a certeza no pai?” E esta interrogação é colocada pouco depois de termos lido que, no tocante à Europa, “nenhuma nação podia se gabar, o meu rei é do meu puro sangue. Os reis muitas vezes nem sequer falavam a língua do país governado.” (PEPETELA, 2011, p. 15) A questão que fica, ironicamente colocada, é a de saber quem, afinal, seriam os “selvagens”.
Uma outra discussão, epistemologicante instigante, que Pepetela nos coloca diz respeito à problematização dos conceitos norteadores das verdades do saber-poder colonizador. No romance temos um incisivo chamar de atenção para a falta de partilha de conceitos que foram fundantes do saber (corporificado na escrita) europeu, isto se dando não apenas em relação ao passado, mas ainda persistindo em discussões no presente. Um exemplo lapidar desta questão está no encontro, mediado por uma “língua”, o escravo Nzoji, entre Cerveira Pereira e o “soba” Ebo-Kalunda, soberano das terras de Sumbe-Ambela (terra do povo sumbe), local que, nas expectativas de Cerveira Pereira, haveria de encontrar minas de cobre. A dada altura da conversa (mediada, traduzida) entre os dois, Cerveira Pereira indaga ao “língua” Nzoji: “– Quer proteção contra os jagas [temidos guerreiros] e fica vassalo do rei de Portugal, é isso?” Vassalagem, eis o conceito, tão presente e límpido em escritas coloniais, e no romance problematizado:
“Nzoji traduziu a pergunta e dá para desconfiar da interpretação do próprio língua, o qual, apesar do convívio constante com os portugueses, devia ter algumas dúvidas sobre o conceito de vassalagem à distância. O mais certo é o ato de vassalagem não ter sido sequer traduzido por inútil, pois a resposta do soba foi clara e rápida.
– Ele quer armas e soldados contra os jagas, vinho, missangas e dá escravos, marfim e mostra o sítio das minas.” (PEPETELA, 2011, p. 254)
São esses apenas alguns apontamentos que nos mostram o quão afiado é o gesto leitor-escriturístico de Pepetela em relação à escrita da história de Angola. O que nos faz voltar a ela mais desafiados pelas perguntas que sua invenção dispara à história. “À propósito de relevância”, nada mais relevante que esse gesto irônico, que esse riso à cara da história a fim de fazê-la ver (fazer-nos a nós vermos) as outras tantas histórias que ficaram olvidadas pelo peso mofento de uma história única (monumental) que tantas vezes se escreveu.
REFERÊNCIAS
BHABHA, Homi K. Ética e estética do globalismo: uma perspectiva pós-colonial. In BHABHA, Homi K. et. al. A urgência da teoria. Trad. Catarina Mira et. al. Lisboa: Tinta da China/Fund. Calouste Gulbenkian, 2007.
CHATTERJEE, Partha. Quinhentos anos de medo e de amor. In ___. Colonialismo, modernidade e política. Trad. Fábio Baqueiro Figueiredo. Salvador: Edufba, 2004, pp. 15-42.
CURTO, Diogo Ramada. Para que serve a história? Lisboa: Tinta da China, 2013.
GUHA, Ranahit. Las voces de la historia y outros estudios subalternos. Trad. Gloria Cano. Barcelona: Crítica, 2002.
HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Trad. Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
MAZRUI, Ali A. O desenvolvimento da literatura moderna. In História geral da África – Vol. VIII. Brasília: Unesco, 2010, p. 663-696. Disponível em: <http://www.unesco.org/brasilia>. Acesso em: 28 jan. 2011.
PEPTELA (Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos). A sul. O sombreiro. Lisboa: Dom Quixote, 2011. [Edição brasileira: São Paulo: Leya, 2012]
VEGA, María José. Imperios de papel: introdución a la crítica postcolonial. Barcelona: Crítica, 2003.
por Dércio Braúna